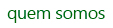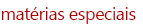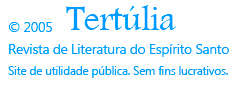Soneto mote de todo o contexto: Velha anedota - Artur Azevedo
Tertuliano, frívolo, peralta,
Que foi um paspalhão desde fedelho,
Tipo incapaz de ouvir um bom conselho,
Tipo que morto não faria falta;
Lá um dia deixou de andar à malta,
E, indo à casa do pai, honrado velho,
A sós na sala, diante de um espelho,
À própria imagem disse em voz bem alta:
- Tertuliano, és um rapaz formoso!
És simpático, és rico, és talentoso!
Que mais no mundo se te faz preciso?
Penetrando na sala, o pai sisudo,
Que por trás da cortina ouvira tudo,
Severamente respondeu: - Juízo.
Tertuliano
Forçoso dizer que não sou o que meu pai esperava que eu fosse: sério, decente e respeitável. que se há de fazer? Não se pode mudar a roda da vida. Nasci como sou, como sou, sou: frívolo, peralta, paspalhão desde fedelho. Decepcionei o velho? Paciência. Sempre tive complexo de Narciso e, vaidoso e velhaco, fui e ainda sou. À minha imagem refletida num espelho, em qualquer espelho, mas de preferência nos ovais e grandes, com molduras de pau marfim incrustadas de florões dourados, nos quais pudesse me admirar de corpo inteiro, sempre me dirigi a mim mesmo em voz bem alta para que pudesse ouvir o som de minhas palavras nos autoelogios que me fazia. Não tenho culpa se, certa feita, na casa de meu pai, quando na sala em penumbra mirava-me qual prima-dona, à frente de um desses espelhos ornados de nobreza, veio-me à sorrelfa aquela honrada e sisuda criatura para interromper o meu diálogo com a imagem refletida em prata e severamente me recomendar juízo. Não gostei do que ouvi, embora reconheça que juízo sempre me faltou.
Mas juízo para quê? Se juízo tivesse, como queria meu velho pai, não teria amado as mulheres que amei, não teria ganhado (posto que também não perdido) o dinheiro que ganhei, nem provado das bebidas e comidas que provei.
Juízo, meu pai?
A mim nunca me foi preciso. E foi bom assim, porque posso dizer agora, no ocaso dos meus dias, que vivi a vida. E ainda conservo os sisos.
Soneto mote: Saudade - Raimundo Correia
Aqui outrora retumbaram hinos;
Muito coche real nestas calçadas
E nestas praças, hoje abandonadas,
Rodou por entre os ouropéis mais finos...
Arcos de flores, fachos purpurinos,
Trons festivais, bandeiras desfraldadas,
Girândolas, clarins, atropeladas
Legiões de povo, bimbalhar de sinos...
Tudo passou! Mas dessas arcarias
Negras, e desses torreões medonhos,
Alguém se assenta sobre as lajes frias;
E em torno os olhos úmidos, tristonhos,
Espraia, e chora, como Jeremias,
Sobre a Jerusalém de tantos sonhos!...
Cavalgadas de luxúria e êxtase
Eu, frívolo, peralta, declaro, sem pudor: em muito coche real rodei nas calçadas e praças, hoje abandonadas, da velha cidade, de arcarias negras e torreões medonhos. Por suas ruas de cinzentas brumas e desencontrados paralelepípedos, subi aos píncaros dos prazeres carnais enquanto desfrutava, de facho purpurino e hirto, amantes que avassalava nos bancos estreitos e sacolejantes dessas carruagens tiradas a burro, colhendo-lhes (delas e não deles) gemidos desfraldados de prazer entre o farfalhar das saias repolhudas com que vinham vestidas, e ainda rendadas de finos ouropéis - o Diabo que o diga! - para as nossas cavalgadas de luxúria e êxtase.
Vivi - vivemos - momentos de loucura, entregues aos ardores do sexo, vibrando em uníssono como quem canta retumbantes hinos, ao som de distantes e imaginários clarins e bimbalhar de sinos, mutuamente tragando-nos no obscuro nicho dos coches obscuros que, de cortinas erradas, cruzavam por legiões de povo.
Tudo passou!
Mas nem por isso, como um Jeremias sobre a Jerusalém de tantos sonhos e prazeres incontidos, meus olhos se fazem úmidos ou tristonhos. O que me ficou foi uma saudade antiga, mas sem prantos e sem lamentos.
Poesia mote: In extremis - Olavo Bilac
Nunca morrer assim! Nunca morrer num dia
Assim! De um sol assim!
Tu, desgrenhada e fria,
Fria! Postos nos meus os teus olhos molhados,
E apertando nos teus os meus dedos gelados...
E um dia assim! De um sol assim! E assim a esfera
Toda azul, no esplendor do fim da primavera!
Asas, tontas de luz, cortando o firmamento!
Ninhos cantando! Em flor a terra toda! O vento
Despencando os rosais, sacudindo o arvoredo...
E, aqui dentro, o silêncio... E este espanto! E este medo!
Nós dois... e, entre nós dois, implacável e forte,
A arredar-me de ti, cada vez mais a morte...
Eu com o frio a crescer no coração - tão cheio
De ti, até no horror do verdadeiro anseio!
Tu, vendo retorcer-se amarguradamente
A boca que beijava a tua boca ardente,
A boca que foi tua!
E eu morrendo! E eu morrendo,
Vendo-te, e vendo o sol, e vendo o céu, e vendo
Tão bela palpitar nos teus olhos, querida,
A delícia da vida! A delícia da vida!
Nunca morrer num dia assim
Outras houve, claro que houve, e asseguro que não foram poucas, nos dias da minha vida em que andei à malta. Poderia até recitar seus nomes e sobrenomes, com eles compondo frases inteiras em alexandrinos versos, numa enxurrada infindável, e queiram crer que não me gabo de sabê-los todos de cor e cor porque afirmo que nomes femininos têm cor.Ninguém, porém, jamais fez de mim o que de mim fizeste porque somente tu foste capaz de me fazer morrer, morrer assim, num dia assim, de um sol assim, mais até, morrer no esplendor do fim da primavera, gemendo e bradando assim, assim, enquanto tu, desgrenhada e fria - como era possível este mistério da carne, amar exaltadamente e, no entanto, manter-se fria ou de frígida se fingir? - postos nos meus os olhos teus molhados, apertando nos meus os teus dedos gelados, assim, assim, transportando-me à esfera azul do firmamento onde meus gritos de prazer voavam e reboavam como pássaros com asas tontas de luz sacudindo arvoredos, despencando rosais, agitando em flor a terra toda, assim, querida, nós dois somente, únicos e eternos, e, entre os dois, implacável e forte, o nosso espanto e o nosso ardor ensandecido, ardor de insanidades canibalescas, ardor de morte morrida (Nunca morrer assim? Mas claro que sim!) num dia assim, de um sol assim, e eu morrendo com o frio a me dominar o coração cada vez que, entrelaçado em ti, beijava freneticamente a tua boca, desfalecendo de gozo, assim, querida, mais forte, mais forte ainda, tão forte e poderoso gozo que me fazia ver o sol de dentro dos meus espasmos prazerosos, e ver o céu, e ver a lua, e ver estrelas, o firmamento todo azul-profano, vendo-te tão bela a delirar de contentamento sob o meu corpo, vendo em flor a terra toda, sentindo o vento sacudir o arvoredo, ninhos cantando, asas de luz, ah, delícia da vida, delícia que me fez morrer assim, num dia de sol assim, postos nos meus os teus olhos molhados, apertando nos teus os meus dedos gelados, assim, querida, oh, desgrenhada mulher que me fizeste provar em vida os regalos da morte.
Houve outras? Claro que houve. Mas nenhuma como ti - proclamo aos gritos.
Soneto mote: Indiferença - Guilherme de Almeida
Hoje, voltas-me o rosto, se ao teu lado
passo. E eu, baixo os meus olhos se te avisto.
E assim fazemos, como se com isto
pudéssemos varrer nosso passado.
Passo esquecido de te olhar, coitado!
Vais, coitada, esquecida de que existo.
Como se nunca me tivesses visto,
como se eu sempre não te houvesse amado.
Mas, se às vezes, sem querer nos entrevemos,
se quando passo, teu olhar me alcança
se meus olhos te alcançam quando vais.
Ah! Só Deus sabe! Só nós dois sabemos,
Volta-nos sempre a pálida lembrança,
Daqueles tempos que não voltam mais!
Lembranças fugidias
Foi brutal o nosso rompimento. Apontaste-me a porta da rua, serventia da casa, e raivosa escorraçaste-me como a um cachorro: "Some, nunca mais te quero ver." E ainda acrescentaste: "Cretino, ordinário, paspalhão, moleque!".
Mas daquelas duras palavras com que me enxotaste, a que mais feriu os meus ouvidos, enquanto deixava a tua casa de fininho, foi aquele paspalhão que me atiraste em cheio, fazendo-me lembrar os tempos idos da minha ida mocidade e a figura de meu velho pai ao surgir de mansinho, às minhas costas, para me repreender secamente, em frente a um espelho, no qual me contemplava embevecido, achando-me formoso, simpático e talentoso.
Durante meses, não mais nos vimos. Eu por aqui fiquei, nesta cidade velha e embolorada, de arcarias negras e torreões medonhos. Tu, alguém me disse, porque há sempre alguém para dar notícias sobre os epílogos dos romances desfeitos, viajaste para Santa Catarina, para São Francisco do Sul, se não erro o nome do lugar aonde foste curtir as mágoas do nosso falido amor, como se assim pudesses varrer o nosso passado.
Um dia, por mero acaso, vi que estavas de novo nesta cidade velha e bolorenta, quando ao teu lado passei e me voltaste o rosto, como se nunca me tivesses visto. Numa segunda vez, também inesperadamente, fui eu quem te viu, mas, ressabiado e precavido, baixei a vista num gesto rápido como se eu sempre não te houvesse amado.
Criamos assim um código de esquivanças automáticas e de não-olhares defensivos, nós que fomos tão íntimos, e quão íntimos fomos!
Ontem, porém, sem querer nos entrevimos. E nesse instante delicioso e cruel, no teu olhar que me alcançou e no meu olhar que se cravou no teu, voltou de súbito (falo por mim, mas percebi também em ti, na desconcertante reação que esboçaste), a pálida lembrança daqueles tempos que não voltam mais. E que lembranças estonteantes - só Deus sabe, só nos dois sabemos -, num simples entrecruzar de olhos fugidios!
Soneto mote: Formosura ideal - Zeferino Brasil
Esta visão que em sonhos me aparece,
e que, mesmo sonhando, me resiste,
por que foge, por que desaparece,
mal eu desperto, apaixonado e triste?
Por que, branca e formosa resplandece
como uma estrela, e a torturar-me insiste,
se é certo, - oh! dor cruel que me enlouquece!...
que ela somente no meu sonho existe?
Cheia de luz e de pureza e graça,
- alma de flor e coração de estrela -
ela, sorrindo, nos meus sonhos passa...
E sempre a mesma angústia dolorida:
branca e formosa dentro d´alma tê-la,
sem poder dar-lhe forma e dar-lhe vida!
Formosura distante, jamais esquecida
Esta visão que em sonho me aparece, sempre às sextas-feiras de lua cheia, é triste porque desnuda a besta-fera que eu sou, à cata do hímen imaculado das donzelas.
O sonho é recorrente: vejo-me diante de um sobrado colonial que tem janelas com venezianas douradas e varandinha de ferro batido. Pelo lado de fora, uma escada sinuosa de madeira dá acesso à parte superior, onde termina numa porta que se abre em duas bandas, separadas pelo meio. Mas a entrada está sempre fechada, quando começa o sonho. Ouço então uma voz que me chama docemente: "Vinde a mim, Tertuliano, oh, meu amado!"
Sei que meu nome, um feio nome, não é de inspirar romantismo a ninguém, mesmo às mais românticas donzelas, mas, no sonho em que flutuo, desconsidero essa desvantagem nominal para me concentrar apenas na parte que encerra o chamamento, "oh, meu amado!"
Porque ali, sozinho, em frente ao sobradinho de outros tempos, eu sou o amado daquela que me chama docemente. E imagino-a cheia de pureza e graça - alma de flor e coração de estrela -, aguardando-me trêmula e desejosa. Ou será que a imagem que teço da ignota criatura só no sonho que eu sonho é que existe?
Mas passo também por cima dessa dúvida para atender, pressuroso e aflito, ao chamado que me leva pela escada sinuosa - sim, porque já estou a subir os seus degraus qual gato pardo em noite de cio -, ávido, avidamente ávido para trespassar ao meio a porta que se abre ao meio, e que, no entanto, está fechada até que eu a vare como um desvairado aventureiro.
E eis que a transponho e ponho o pé direito - o pé da sorte - dentro do sobradinho, onde desemboco numa alcova, porque este meigo sobradinho onírico não passa de uma alcova.
E vejo então ali, deitada sobre um leito, aquela que há pouco para mim era uma voz clamando docemente em surdina, mas que agora é uma nítida donzela que me olha enternecida e branca e que formosa resplandece como uma estrela (novamente a imagem da estrela me acomete), sorrindo para mim como somente em sonho é capaz de sorrir uma estrela, formosa, branca e enternecida.
Paro estupidificado ante tanta beleza, aos meus olhos exposta, e ainda por cima indefesa, esquecendo-me por alguns instantes que, nos meus sonhos das sextas-feiras à luz da lua cheia, sou uma besta-fera famélica - oh! dor cruel que me enlouquece! -, que sai à caça da pureza das donzelas.
Mas é parada curta, somente para recobrar o fôlego. Logo, viro a fera bestial das sextas-feiras enluaradas e, de pelos eriçados, caninos à mostra, baba espumante, olhos incandescentes, arremeto sobre a visão que em sonhos me aparece, e a torturar-me insiste, mas que se desfaz num átimo ante a minha fúria, porque foge, porque desaparece, sem que eu possa dar-lhe forma e dar-lhe vida.
Soneto mote: Miriti - Martins Fontes
Beijei, na Ilha do Sol, a uma palmeira,
Que ainda mais que o jasmim e o vetiver,
E a malva-rosa de São Paulo, cheira,
Cheira, em setembro, a carne de mulher!
Porém trescala o odor, de tal maneira,
Que entontece e perturba a quem tiver
A volúpia brasileira
De provar esse eflúvio rosicler.
Falei-lhe, à noite, apaixonadamente,
No harém do bosque, perfumado e quente,
Ninho aromal, romântico aranhol...
Outros prazeres esqueci na vida,
Mas não te esqueço, Miriti florida,
A quem beijei, ao luar, na Ilha do Sol.
Paixão silvestre
Pensem no Paraíso antes da serpente. Digo melhor: pensem nele antes de Eva. Ali vivia um solitário Adão, porém feliz e satisfeito, até porque estava só, sem se aperceber que só estava. E por que se aperceberia Adão da sua humana solidão se o Paraíso todo lhe bastava? Flores, frutos, frondosas árvores, aromas silvestres por toda parte se espalhavam. E Adão reinando à vontade, dono do seu umbigo, senhor do seu nariz, e, ainda por cima, nu, nu em pelo ou sem pelo como quiserem.
Complete-se agora o quadro de felicidade do nosso pai Adão: estava solitário, feliz, satisfeito e nu, e ainda assim sentia-se simples e ingênuo, porque não se sabia nu, nem se sabia exposto com a sua vergonha cabisbaixa e triste.
Por que ir tão longe, ao recuado Paraíso, antes de Eva, antes da serpente, no tempo que a Adão nada mais no mundo se fazia preciso, para contar aos que me lerem o que aos que me lerem a lhes contar estou?
Explico-me, pois justificar preciso.
Eu também vivi o meu momento de Adão numa ilha de sol, aonde fui ter um dia, pelo vento da poesia transportado. E na ilha chegando, e na ilha me estabelecendo para uma longa temporada de isolamento e devaneio, fiquei entregue apenas a mim mesmo, sem ninguém para conversar, sem mulher alguma para amar, sem serpente nenhuma para me ameaçar a paz. E foi então que me voltei, naquele ambiente primaveril e insular, para a natureza que à minha volta me cercava num amplexo verde, de verde mata, de silvestre verde, trescalando odor de tal maneira que a mim me entontecia e perturbava.
Mas estou lhes falando da sensação primeira, a sensação que me causou a ilha perfumosa logo que nela aportei e que me invadiu num sentimento geral de voluptuosa descoberta. Pois saibam que era só o começo, antes que eu desse com os olhos na jovem palmeirinha que cheirava a malva-rosa, ou, para ser mais exato, antes que a jovem palmeirinha a mim se insinuasse tentadora, recendendo a jasmim e vetiver (tanto perfume numa palmeirinha única, saberia eu depois, era cheiro de carne de mulher, odor de pecado).
Que amei a palmeirinha na ilha solitária, ninho aromal onde fui parar, amei. Que lhe falei à noite, apaixonadamente, no harém do bosque, perfumado e quente, falei. Que a beijei na ilha deserta, beijei. E da volúpia que provei não me recrimino nem me espanto. Talvez o pai Adão, em seus tempos de felicidade paradisíaca, antes da serpente, antes de Eva, quando ainda mantinha a vergonha cabisbaixa e triste, nunca tenha vivido experiência semelhante à minha, com o meu amor naturalista pela Miriti florida.
Soneto mote: Na alcova - Zeferino Brasil
Formosa e diáfana visão de lenda,
Elsa, subindo o leito de escarlata,
o cortinado cerra, e a rir, desvenda
a alva nudez escultural e exata.
Antes que o fino laço se desprenda,
a loura coma em ondas se desata,
e a moça esconde em flóculos de renda
o régio corpo modelado em prata.
Doce perfume o colo lhe embalsama...
Abrindo as asas de rubi e lhama,
olha-a, entre flores, um cupido louro...
Cerra, afinal, as pálpebras de neve,
e o sonho desce, e estende, leve, leve,
sobre o leito o estrelado manto...
Nudez escultural e exata
Lembram-se vocês do quadro de Velásquez, Vênus olhando-se ao Espelho? Vista de costas, numa pose nua, ocupando toda a extensão da tela, uma jovem acha-se estendida sobre um leito coberto com uma manta azul turquesa, tendo no fundo um cortinado rubro, de rubor erótico. Diante da deusa, um cupido de feições matreiras sustém um espelho onde se reflete o rosto da Vênus em camafeu à parte.
Mas o rosto refletido no espelho, dizem os entendidos em artes plásticas, é um mistério intrigante no mundo das artes, porque não parece corresponder ao da jovem à frente do espelho, antes está ali como se fosse um outro rosto, um rosto estranho e misterioso, um intrometido rosto que não guarda sintonia com o corpo lânguido e casto da diva estendida sobre o leito.
Por que invoco aqui o quadro de Velásquez, me perguntarão alguns. E a esses alguns respondo: havia uma gravura que reproduzia o quadro da Vênus olhando-se ao Espelho no quarto, colado ao meu, na casa de meu pai, onde a minha prima Elsa - a preferida dentre as minhas primas - veio dormir uma semana.
Avaliem a extensão do que lhes digo: ao lado do meu, no quarto com a pintura da Vênus olhando-se ao Espelho presa à parede que os dois quartos separava, uma outra Vênus, em carne e osso, veio dormir uma semana.
Se perdi o juízo com a proximidade provocante dessa deusa, real e pura, ao meu lado disponível em noturno abandono, hão de querer saber alguns dos que me leem? Pois respondo que só não perdi o juízo porque nunca o tive. Mas confesso que fiquei alucinado. E alucinado fiz o que só um alucinado faz: armei uma tocaia.
Com uma habilidade pervertida de que nunca me julguei capaz, abri, na parede entre o meu quarto e o da minha priminha preferida, um furo, furo discreto, insignificante furo, que dava exatamente em cima (não adivinham adonde o furo dava?), pois dava bem em cima de um dos olhos da imagem da Vênus de Velásquez refletida no espelho que o cupido segurava.
Se o rosto da deusa já era estranho para o mundo das artes, mais estranho passou a ser com a intromissão do meu olho de pirata que, em secreta segurança, pôde devassar o interior do quarto onde a diáfana Elsa veio aterrissar.
E assim, graças ao meu inventivo estratagema, pude desfrutar da visão da divina gema no quarto vizinho ao meu, visão de lenda que todas as noites se reproduzia.
Com o sublime prazer dos voyeurs, deliciei-me durante sete dias com a formosa Elsa subindo o leito de escarlata, o cortinado cerrando, e a rir, deixando cair em ondas, sobre seu régio corpo modelado em prata, a cabeleira loura que do laço desatava para desvendar, diante do meu olho fremente de prazer, encravado na imagem do espelho da gravura de Velásquez, toda a sua alva nudez, escultural e exata.
Mas como não há bem que sempre dure, veio o triste dia em que a prima Elsa foi embora. Ao nos despedirmos no jardim da casa de meu pai, honrado velho, este seu não tão honrado filho deixou escapar uma confissão que, em seu duplo sentido, era absolutamente verdadeira, além de uma homenagem àquela que partia:
- Vou sentir muito a sua falta...
- Eu sei - respondeu-me a deusa que se ia. E completou: - Mas agora você não vai mais ficar de olho pregado na parede.
Assim falando, riu o mesmo risinho cheio de malícia que ria quando subia ao leito de escarlata e, de cabeleira solta sobre o régio corpo modelado em prata, deixava-se desvendar em toda a sua beleza escultural e exata.
Soneto mote: ...Depois - Guimarães Passos
Para mim, pouco importa a recompensa
dos meus carinhos quando te procuro;
dirão que tens um coração tão duro,
que pedra alguma há que em rijeza o vença.
Dirão que a calculada indiferença
com que tu me recebes é seguro
condão que tens de todo o meu futuro
trocar, sorrindo, em desventura imensa.
Dirão... que importa a mim? Dá-me o teu leito,
dá-me o teu corpo, fecha-me nos braços,
une os lábios aos meus, o peito ao peito,
que eu nem saiba qual seja de nós dois...
Mentem teus beijos? Mentem teus abraços?
Seja tudo mentira... mas depois.
O dia seguinte
- Você foi pra cama com Tertuliano? - perguntou a amiga de Pietra.
- Quem lhe disse isso?
- Tertuliano...
- Cafajeste!
- Cafajeste sim ou cafajeste não?
- Como assim? - indagou Pietra.
- Você foi ou não foi pra cama com ele?
- Claro que não! Vê se ia me abrir para aquele calhorda...
- Mas vocês jantaram juntos...
- Quem te falou?
- Tertuliano...
- Cafajeste... - voltou a repetir Pietra.
- Jantaram, então?
- Não é porque jantei que fui para a cama com ele...
- E por que jantou?
- Por quê? Por quê...? Jantei por uma questão feminista...
- Esta você vai ter de me explicar - disse a amiga.
- Foi para mostrar àquele calhorda que nem toda mulher ele conquista... Honrei meu nome e me fiz de pedra, toda vez que ele tentava a investida. Para falar a verdade, ri da sua cantada, deixando-o maluco com a minha recusa... Comigo sua lábia não deu certo.
- Dizem que ele é bom de lábia... - observou a amiga.
- É o que não lhe falta... Chegou a me dizer uns versinhos.
- Versinhos...?
- Pelo menos achei que fossem.
- Que versinhos?
- Sei lá... Disse que o sonho dele era me levar pro leito (ele não falou cama, falou leito), que queria me fechar nos braços, juntar meus lábios aos lábios dele, juntar os nossos peitos sem que a gente soubesse quem era ele ou era eu, vê só...
- E depois? - insistiu a amiga.
- Foi o que eu perguntei a ele... e depois? Depois você vai sair por aí contando vantagem, dizendo pra seus amigos que me comeu... - disse Pietra.
- Você falou isso pra ele?
- Falei!
- Falou comeu?
- Falei...
- E qual foi a reação dele? - quis saber a amiga.
- Disse que eu estava enganada, que jamais faria uma coisa dessas... que até respeitava minha resistência de pedra em não "ir" com ele, mas que, se eu fosse, ele guardaria segredo para sempre, segredo inviolável... Chegou a me propor que se fôssemos para a cama, e alguém soubesse ou perguntasse, diríamos que era mentira, tudo mentira... Seria um acordo entre nós... Acordo sagrado! Ele realmente é bom de lábia...
- Mas não é o que ele anda dizendo por aí... - confidenciou a amiga.
- E o que está dizendo?
- Está dizendo que viveu com você uma experiência gloriosa... Que você até ganiu na cama... Pelo menos foi o que me disse...
- Filho da puta!
- É tudo mentira?
- Claro que é... - disse Pietra.
- Mas é a mentira que vocês combinaram dizer ou...?
- Mentira pura! Nunca fui pra cama com ele. E sabe o que mais: que importa a mim o que ele está dizendo se eu sei que não é verdade? Pra mim o que vale é o que eu fiz, ou o que eu não fiz! - E arrematou, agastada: - Cafajeste...! Calhorda!
Soneto mote: Braços - Cruz e Souza
Braços nervosos, brancas opulências,
brumais brancuras, fúlgidas brancuras,
alvuras castas, virginais alvuras,
latescências das raras latescências.
As fascinantes, mórbidas dormências
dos teus abraços de letais flexuras,
produzem sensações de agres torturas,
dos desejos as mornas florescências.
Braços nervosos, tentadoras serpes
que prendem, tetanizam como os herpes,
dos delírios na trêmula coorte...
Pompa de carnes tépidas e flóreas,
braços de estranhas correções marmóreas,
abertos para o Amor e para a Morte!
Visita à casa paterna
Sentimentalismo de velho, o impulso doentio que nos faz voltar aos tempos de infância. Mas a ele me curvei e, quando dei por mim, estava na casa de meu pai, no casarão centenário, hoje quase em ruínas, onde vivi meus dias de criança. Passei pelo portão de grades desgastadas, outrora prateadas, hoje beirando a ferrugem, e caminhei no jardim em decadência sobre o tapete de folhas secas como se pisasse em ovos. E de certa forma pisava porque voltava ao encontro de mim mesmo, de um Tertuliano peralta e ardiloso, num retorno que era de ser feito pisando leve.
Segui pela alameda de pedras rudes, entre as quais o mato espichava a cabeleira verde, e parei diante do banco em frangalhos, onde meu pai se sentava nas tardes límpidas de outono para ler Garrett, Eça de Queirós e Camilo Castelo Branco. Ali, também eu, de fuça voltada para o alto, esticava-me indolente para ver os raios do sol se infiltrar entre as folhas da grande castanheira até ferir o fundo dos meus olhos, no limite da cegueira.
Do banco fui além, mergulhando no além da casa morta: cheguei ao orquidário; do orquidário, ao caramanchão onde tivera endereço uma parreira agreste, agora totalmente extinta; da parreira esbarrei no pé de tília que, com suas folhas ásperas e vivazes, ignorava a derrocada que reinava à sua volta; da tília dei à estátua que imitava a Vênus de Milo, estanque perto de um lago estanque, por sinal imundo.
A Vênus parecia ter envelhecido tanto quanto eu ou quanto o lago, talvez evido ao limo acumulado pela pátina do tempo sobre a sua epiderme de mármore, antes alva e virginal, mas que adquirira a aparência de um fantasma com seu tom de verde repulsivo.
Mesmo assim aproximei-me dela, reverente e circunspeto, como quem revisse uma antiga amante. E me revi amante quando pulava, menino, à hora da matinas, a janela do meu quarto, para ir abraçar a Vênus do jardim da casa paterna.
Dirão os que me ouvem que o meu abraço era um abraço frio, mórbido e mortiço, um amplexo sem nexo numa mulher desprovida de braços e de vida. Enganam-se, porém, os que assim pensarem.
Na minha imaginação incandescida, na lubricidade assustadiça e florescente de quem se entregava às iniciações do sexo, a estátua tinha braços, braços nervosos, de fúlgidas brancuras. Não disse tudo: a deusa tinha braços de brumais alvuras e de brancas opulências. Melhoro a hipérbole: seus braços, que me apertavam contra os seios duros e perfeitos, eram por mim imaginados como tentadoras serpes, de letais flexuras. Querem saber de mais? Eram braços de latescências das raras latescências, e aqui eu disse tudo.
Quando já rondava a estátua para entrar na casa abandonada, eis que paro como se ouvisse na voz do vento, a voz da Vênus que, numa entonação de velha experiente e sábia, corrigia-me a imprecisão da descrição: - Braços, querido, abertos para o Amor e para a Morte!
Terminei minha visita ali, naquele instante, voltando sobre meus passos no tapete de folhas secas que percorri, não mais como se estivesse pisando em ovos, mas fugindo do atordoante assalto dos fantasmas - o meu próprio e o da minha primeira amante.
01 :: 02 :: 03 :: 04