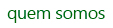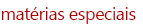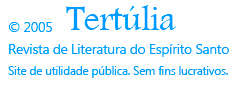Patrulha da família
Esses dias, a releitura do ótimo livro Patrulha da madrugada, do meu amigo escritor e especialista em aviação Álvaro Santos Silva, sobre os primórdios da aviação civil no Espírito Santo, me fez pensar nos aviões que me levaram e nos aeroportos por onde andei, em momentos inesquecíveis durante minhas décadas de viajante aéreo.
Faz muito tempo, eu era bem pequeno e minha memória já não funciona muito bem, mas com esforço lembrei que da primeira vez que fui a um aeroporto, acho que em 1958, tinha cinco anos e estava embarcando – com minha mãe, Rosa Maria e meus dois irmãos: Maria Luiza, de três anos e Henrique de colo – para Macapá, no Território Federal do Amapá. Meu pai, engenheiro, em um emprego novo, nos esperava para outro desafio na sua vida de nômade, daquela vez com a família. Alguns anos antes, o engenheiro estava aqui, em Vitória, ainda solteiro, prospectando aflorações características para a indicação da presença de petróleo no subsolo capixaba, sem sucesso. Há um livro, onde o diário dessa peripécia foi publicado: 1950 – Um engenheiro no Espírito Santo – editado pelo Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo.
Voltando aos aviões e aeroportos: meu primeiro foi o de Itajaí, em Santa Catarina e lembrei-me dele quando décadas depois conheci o de Vitória. Uma construção baixa, avarandada com colunas em arcos e uma torre de controle pequena. Certamente contemporâneos, resultantes de um projeto comum para distribuição de aeródromos, quem sabe dos tempos de alguma Guerra Mundial. Hoje, a cidade de Itajaí é atendida pelo novo aeroporto de Navegantes, município vizinho. Naqueles tempos tudo em Navegantes ainda era mato. Do antigo aeroporto não tenho notícias, nem sei se existe. Quanto ao novo, da cidade vizinha, fiz lá uma ou duas escalas sem desembarcar.
Na verdade aquele não era meu primeiro aeroporto, que antes, bebê de colo, sem consciência, já havia viajado de avião entre Itajaí, Florianópolis, Criciúma e Porto Alegre, mas isso não faz parte da minha memória.
Muito bem, lá estava eu embarcando em um Douglas DC-3 da Cruzeiro do Sul com destino ao Rio de Janeiro, primeira escala da viagem até o Amapá. Lembro que dentro do avião estacionado era necessário escalar um tipo de rampa para se chegar às poltronas. O modelo da Segunda Guerra transportava até 32 passageiros e tinha trem de aterrisagem triciclo, como é comum, mas com uma rodinha na traseira do avião – bequilha, é como se chama aquele tipo de roda, como descobri depois –, o que causava esse efeito de ladeira quando estacionado. Sei que fizemos escalas em Curitiba e São Paulo, das quais não tenho a mais vaga lembrança, antes de chegarmos ao nosso primeiro destino. O DC-3 precisava ir pingando de aeroporto em aeroporto, sem autonomia para voos mais longos.

No Rio, nos hospedamos no apartamento de minha tia-avó Corália, irmã do meu avô de Itajaí. Então conheci de uma vez o avião, o grande Aeroporto Internacional de Santos Dumont, a capital da República, Copacabana, um túnel, pessoas morando em apartamentos, a televisão e os desenhos animados. Coisas muito loucas para deslumbrar um menino de cinco anos de idade, recente na descoberta da sua própria existência, que jamais tivera visão de outro mundo, além de Itajaí, com menos de 50 mil habitantes contando a cidade e seus arredores.
Ficamos alguns dias no Rio de Janeiro esperando a conexão que nos levaria até Belém do Pará. Esse voo, então, seria realizado no espetacular Lockheed Constellation da Panair do Brazil, com 80 lugares, que era na época, em matéria de voar, o que havia de mais moderno e confortável. O avião, puxado por quatro motores a gasolina, em seu caminho para Miami, fazia escala em Belém, para se reabastecer, antes de lançar-se para fora do território brasileiro. Alguns modelos de Constellations transportavam até 100 passageiros, mas que àquela época estavam condenados a sucumbir devido à era dos jatos comerciais, principalmente o Boeing 707, que começavam a voar em rotas internacionais naquele ano de 1958 (chegariam ao Brasil em 1960, pela Varig).

Em Belém, conheci mais um Aeroporto, o Val-de-Cans e o Hotel Grão-Pará: primeiro hotel da minha memória. Lembro de um prédio grande, em uma praça grande e de uma cidade com ruas largas e muitas árvores grandes.
Ficamos lá alguns dias, não recordo quantos, mas minha mãe diz que foram muitos, mais do que o programado, por conta dos temporais que impediam a decolagem do outro DC-3, que nos levaria ao nosso destino final. Sobrevoando, em baixíssima altitude, um oceano de água doce, na foz do Amazonas e por cima da Ilha de Marajó. Minha mãe contou muitas vezes das dificuldades que passou sem ajuda, com três crianças bem pequenas, naquele hotel imenso e luxuoso, sem ajuda de babás e avós com as quais ela, e todos nós, estávamos habituados. Minha irmãzinha chorava dia e noite, dizia minha mãe.
Depois de alguns dias em Belém do Pará, de volta ao Aeroporto Val-de-Cans, finalmente embarcamos ao encontro do meu pai, que nos esperava no Aeroporto de Macapá, do qual não lembro o nome.
Aquele périplo aéreo repetiu-se algumas vezes nas nossas idas e vindas a Itajaí nas férias, até que meu pai demitiu-se e nos devolveu definitivamente a Santa Catarina, isso em 1960.
Em 1963 nos mudamos para Porto Alegre, onde ficamos até a família partir para sua segunda mudança aérea em 1968: para cá, Vitória. Os aviões evoluíram, dessa vez, foram utilizados o Caravelle da Cruzeiro do Sul – jato francês – de Porto Alegre até o Rio de Janeiro e, do Rio para cá, o Lockheed Electra II da Varig (ou teria sido o Viscount da Vasp?), turboélice norte-americano – uma combinação de jato com hélice.

Conheci, nessa época, mais dois aeroportos o de Vitória, Eurico Salles, e o Galeão, no Rio de Janeiro.

Anos depois, pude conhecer muitos aeroportos: Florianópolis, São Paulo, Curitiba, Tubarão, Brasília, Belo Horizonte, Manaus, Porto Velho, Rio Branco e mais alguns dos quais não me lembro. Qualquer um desses, mesmo tendo parte em algumas viagens que considero memoráveis, nunca mais deixariam impressões como as lembranças dos aeroportos da minha infância.