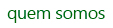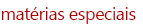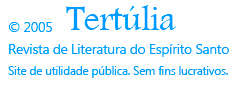Dois graus a Leste, três graus a Oeste
Prólogo: jazz & álcool
Enquanto lia a primeira linha do divertido livro de Reinaldo Santos Neves, “Dois graus a leste, três graus a oeste”, estava acontecendo – mas eu ainda não sabia – meu primeiro contato “sério” com o jazz. Até ali apenas havia tentado algumas vezes, com certo esforço, ouvir, entender e, quem sabe, aceitar o jazz. Muito difícil!
Pensar nisso me fez lembrar do meu tio, com sua garrafa de faixa azul gelada já às 9 horas da manhã, dizendo pra mim e pro Chico que cerveja precisa começar a beber ainda jovem, para poder aproveitar quando adulto. Logo experimentamos nosso primeiro gole e não gostei, mas insisti e, com a recomendação do padrinho levada a sério, aos poucos passei a adorar essa bebida amarga. Whisky, ainda só fica bom depois do terceiro gole, com os dois primeiros dando vontade de desistir e pedir um guaraná.
Assim foi a minha (falta de) experiência no jazz: sem “beber” a coisa desde cedo me tornei refratário aos bebops e aos “dedilhados repetitivos de piano”, citando a mim mesmo. O sax nunca mais conseguiu me encantar, porque – não sei por quê – me lembra o Pato Donald. Paciência, me faltou quem sabe um padrinho. Aí, ganhei do governador do Espírito Santo o livro do Garibaldi, digo, do Reinaldo e algo mudou, logo ali, entre a primeira e a terceira crônica.
Capítulo 1: a história
A música apareceu tarde na minha vida, aos 12 anos de idade. Antes disso não lembro de nada além das cantigas de criança: “atirei o pau no gato” e por aí. No meu inconsciente deve ter ficado gravado o Frank Sinatra, a Doris Day, Sílvia Bentiveiga, Miltinho e outros daquele tempo, porque minha mãe já tinha esses discos quando descobri o que eram aquelas bolachas pretas e percebi que a música fazia parte da vida das pessoas e porque alguma coisa ainda ecoa dentro da minha cabeça quando ouço essas, mas não me lembro dos discos tocando.
Um dia comecei a prestar atenção nas meninas e elas ouviam umas coisas que os meninos ridicularizavam e eu era um deles. Renato e seus Blue Caps e Elvis Presley é do que me lembro, e Beatles. – Os caras são os reis do ié ié ié, vejam só! Há há há!” – Os meninos riam e debochavam, eu junto. Confesso que não compreendia e desconfiava do preconceito, mas lembro do som e que achava meloso e meio boboca, não era? Mais adiante, revisionista, eu passaria pro lado do ié ié ié. Mas para que isso pudesse acontecer teve que aparecer um Revolver. Já o Elvis, até hoje não deu.
Interlúdio: os Beatles em Camboriú
E o Revolver apareceu assim: em Camboriú, nas férias de verão de 1967, minhas primas acharam um uruguaio na praia e o trouxeram para casa. Até aí tudo normal, pois elas viviam nos irritando indo atrás de rapazes mais velhos que nós, eu, meus primos e a turma da nossa idade – 14 anos – e morríamos de ciúmes. Então Mono – era esse o apelido do uruguaio melenudo – lá pelas tantas sacou de debaixo do braço um LP, stereo, com capa em preto e branco e disse que era o último dos Beatles. Torci o nariz mentalmente. O cara perguntou se podia botar pra tocar – ninguém disse não –, então botou no toca discos e BUM! Taxman explodiu as minhas orelhas cerebrais e elas nunca mais seriam as mesmas! Aquele Revolver ainda me atingiu com Eleanor Rigby, I'm only sleeping, She said she said, And your bird can sing e Got to get you into my life, as que mais “doeram”, e o resto é o resto.
– Que coisa é esta? – A capa do disco pulava de mão em mão entre os meninos que não gostavam dos Beatles.
– Revolver – informava o agora-genial-uruguaio, orgulhoso como que chegado de Londres naquele instante.
Resulta que nos tornamos numa fraternidade musical beatlemaníaca e as meninas tiveram que procurar outro para satisfazer sua sanha namoradeira. Porém, sem querer, nos tornamos também seus concorrentes, pois era só atacar com os primeiro acordes de Taxman que alguns dos novos rapazes se bandeavam para o nosso lado. Naquele verão de 1967 nós fizemos bons amigos, as garotas tiveram mais trabalho e passaram a odiar os Beatles.
Capítulo 2: educação musical
Revolver e Ruber Soul dos Beatlesme mostraram que o nome próprio do ié ié ié era rock’n roll e que o rock’n roll continha uma gama bem variada de combinações de ritmos e arranjos e que aquilo mexia comigo: a explosão que tinha acontecido dentro da minha cabeça.
Logo conheci Cream e The Doors, trazidos diretamente do estrangeiro por um amigo de um primo, isso acontecendo alguns anos antes de chegarem por aqui, via gravadoras. I feel free, I’m so glad, People are strange, Love me two times e suas parceiras naqueles discos completaram o serviço iniciado por Taxman. Então, parecia que não haveria mais nada para explodir entre as minhas orelhas até aparecer o Hendrix, mas isso é assunto para outra ocasião.
Ainda nessa época, um amigo, que não vejo há décadas, gostava de jazz e era leitor da revista Down Beat, então, muitas vezes, enquanto ouvíamos algo de jazz, eu pegava um exemplar e folheava aquilo tentando ler e aprender sobre as músicas e os sujeitos que produziam jazz, que a revista é especializada nisso. Não lembro de mais nada do que lia ou ouvia, mas lembro da piada (disso a gente sempre se lembra) que finalmente fiz para o amigo quando disse que era mais fácil entender bula de remédio do que os textos sobre jazz e seus músicos. Down Beat nunca mais.
O que interessa é que até esse ponto da história – 20 anos de idade – há pouca coisa importante de jazz. E nunca mais haveria, pelo menos nos próximos 40 anos.
Epílogo
Aí, 46 anos depois de Revolver, ganhei um livro.
Reinaldo Santos Neves, o autor desse livro, “Dois graus a leste, três graus a oeste” (e sua escrita hipnótica), me hipnotizou e, sem possibilidade de reação – que eu também não queria reagir –, fui mergulhado numa corredeira de crônicas de jazz, com personagens locais (alguns imaginários) e internacionais, todos reais e mitológicos. Ali nadei alegremente entre risadas e braçadas da primeira até a última página. Mesmo sabendo pouco, quase nada do que Reinaldo fala, quando fala de jazz – ele só fala de jazz –, segui feliz na leitura lamentando apenas que tivesse fim.
“Dois graus a leste...” é um passeio divertido, hilário e frenético pelo universo do jazz e deve ser lido ao lado do computador ligado à Internet e ao Youtube, ou algo do gênero, para ir pondo pra tocar cada citação que o texto faz e isso acontece o tempo todo, centenas de vezes. Pode ser que ao final o leitor continue não gostando de jazz, mas é quase certo que vai saber por quê.
Entrevista
– E eu o quê?
– Você passou a gostar de jazz?
– Claro, adoro jazz, quem disse que não?
– Você mesmo, o tempo todo, desde o começo dessa crônica.
– Que isso, sempre gostei de jazz, só não sabia que...
– Que isso digo eu. E aquela história do Pato Donald, do saxofone?
– O Pato Donald é um viado! Adoro sax, mesmo com aquele som de pato rouco.
Pano!