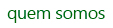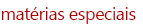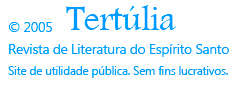Novas crônicas de Roberto Mazzini
Roberto Mazzini fala do brot e da chimia. Roberto Mazzini escreve um texto calmo, mas firme em sua andança pela memória do lugar da sua infância, juventude e mais alguns que só um homem maduro pode ir. Roberto Mazzini é um homem terno. Ele não gostou de coisas que Paris lhe ofereceu e fala com coragem o que para muitos será sacrilégio. Gosto desse cara! Então cheguei na parte do livro onde ele declara seu amor à chuva. Aí, o encanto transformou-se em admiração, quase espanto.
Eu, que adoro a chuva, descobri um semelhante! Não sou o único maluco!
Me olham com desconfiança sempre que declaro que gosto muito dos dias de chuva e mais, de sair na chuva com meu carro. Não sei por quê, mas sensações importantes e agradáveis tomam conta de mim enquanto perambulo pelas ruas da cidade ao volante enquanto chove lá fora. Pensando sobre isso, lembrei que venho de um lugar onde as chuvas são frequentes, mais do que aqui no sudeste, Rio de Janeiro ou Vitória. Lá, em Porto Alegre, nunca se escolhe o que fazer quando a chuva cai. Elas acontecem a qualquer momento do dia e é comum chover por dias e dias sem fim. No inverno, além do frio de rachar, tem muita chuva. No verão, além do calor infernal, tem muita chuva. Então, é equipar-se e partir para ela. Rotina: sair de casa para a escola ou para o trabalho debaixo d’água. Aqui não. Como são mais esparsas e chover por vários dias seguidos não acontece muitas vezes, quase que se pode justificar o não sair de casa. Assim, não ir à escola ou ao trabalho não espanta ninguém. A chuva assusta.
Desde que saí de lá, nunca mais testemunhei o dia virar noite, quando nuvens negras cobrem o sol tão completamente que, mesmo ao meio-dia, fica como de noite. Céu negro, escuro, sem estrelas. Então, os relâmpagos dominam a paisagem apocalíptica. As luzes da cidade se acendem, os motoristas acionam os faróis. As galinhas são enganadas e se recolhem para dormir. Queria ver o que as pessoas daqui achariam disso.
“Impensável! Se chuva fizesse mal à saúde a humanidade estaria extinta há milênios.” Ouço, de dentro da minha memória, a avó me enxotando para a escola e levando comigo meus irmão menores. Ainda não compreendia bem o que era impensável, humanidade, extinção ou milênios, mas não tinha jeito, entendia que era para ir chapinhando pegar o bonde e, molhado, chegar ao querido Colégio Cruzeiro do Sul, que ficava longe, depois de uns quarenta minutos de viagem, lá na rua Arnaldo Bohrer no bairro Teresópolis. Ah, e não podia perder nenhum irmãozinho pelo caminho, um de seis, outra de oito anos. Eu com dez.
Logo adiante - essa parte é importante -, também lá do mesmo espaço cerebral, chega a figura do meu pai, já em tempos abonados, ao volante do nosso Simca Chambord novinho, com os limpadores de para-brisa funcionando. Motorista cuidadoso, suave e competente, nos levava pelo mesmo trajeto do bonde. Nesse tempo o bonde já havia desaparecido, substituído pelo ônibus.
Por que isso é importante? Estou certo de que é nessa parte da minha memória que está a chave para explicar o meu prazer de guiar na chuva.
Um dia, se alguém estiver com este texto na mão, a esta altura da história bem pode estar pensando: achei que estaria lendo um comentário sobre o livro de Ivan Borgo, Novas Crônicas de Roberto Mazzini. Em vez disso leio chorumelas saudosistas a respeito das chuvas de Porto Alegre.
O problema é que a leitura de crônicas tão convidativas a visitas aos confins da memória me deixaram assim, numa nostalgia feliz, lembrando do que há muito foi arquivado.