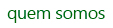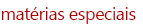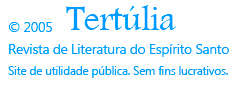O diretor do nosso jornal recebeu do poeta Geir Campos a seguinte correspondência:
Rio, agosto 10/87
Antonio Borges de Rezende,
meu caro,
paz e alegria/s!
Não sei se interessa a A Ordem publicar uma série de crônicas (?) que escrevi, numa espécie de “testamento” lítero-sentimental.
Mas eu pensei que talvez fosse interessante, sim, para alguns conterrâneos meus, saberem algumas coisas de minha vidinha (*) - quem sabe?
Em todo caso, aí vão alguns capítulos de um livro que pretendo publicar (quando?) com o título de Encontros não-marcados.
É claro que já conversei com meu amigo Fernando Sabino, autor de um romance, também autobiográfico, chamado Encontro marcado.
Aceite os cumprimentos do conterrâneo
Geir Campos
(*) ps - Afinal, é a “vidinha” de um “calçadense ausente”, não é mesmo?
Abaixo publicamos, com muito prazer, a primeira crônica da série:
Meu encontro com o caçador
Muitas não são, mas são poucas e boas, como se diz, as lembranças que guardo de meu pai, internado num hospital de nervosos quando eu tinha sete anos e de lá emigrado para o país dos mortos quando eu ia fazer onze.
Não tive tempo de conhecer todas as faces da personalidade de meu pai. As coisas que dele sei foram-me contadas, na maioria, por amigos e parentes: sua generosidade, seu coração aberto, seu pouco apego ao dinheiro e aos bens materiais, seu amor ao filho mais velho e varão...
Lembro me de meu pai cantarolando “Queremos Deus” ou “No céu, no céu, com minha mãe estarei”, melodias e letras que, de tanto e tão carinhosamente escutadas, acabaram fixando-se em minha memória infantil - que é de lembrar para o resto da vida.
Mas havia, na vida de meu pai, duas coisas que o faziam sair de casa e tardar na volta: uma era o jogo de pôquer, em que ele jogava suas muitas noites e seu pouco dinheiro, e outra ега a caça, em que ele jogava o tempo.
No fundo do armário de peroba amarela guardava ele sua espingarda Winchester de coronha florida. De quando em quando ele a apanhava, limpava-a com ternura, punha no bornal duas latas de balas e cartuchos, e desaparecia; voltava dois ou três dias depois, às vezes mais, guardava de novo as balas e a espingarda, vestia de novo seu impecável guarda-pó de linho branco, e a vida do cirurgião-dentista retomava o de costume.
Além da espingarda, tinha meu pai dois ou três pios de madeira, desses de chamar o pássaro inhambu com a imitação do canto dele entre as árvores do matagal. Mas não me lembro de jamais ter visto meu pai chegar trazendo morto algum inhambu ou qualquer outro passarinho, conquanto fosse esse em aparência o móvel de suas caçadas.
Vez por outra ele remexia no guarda vestidos, apanhava a Winchester, espalhava as balas e os cartuchos das latas em cima da mesa, ficava uma porção de tempo apalpando e sopesando a espingarda e a munição, cantando baixinho “No céu, no céu”, o olhar perdido na distância. Depois punha de novo as balas e os cartuchos nas latas, enrolava de novo a arma, e guardava tudo no armário de novo.
Só uma vez, em Morro Agudo, acompanhei meu pai numa dessas “Sortidas” de caça. E íamos sozinho os dois, nem cachorro levávamos; e eu nem acredito que, em tais andanças, meu pai jamais tencionasse levar cachorro algum (apenas para cansá-lo), pois dificilmente haveria alguma caça abatida a farejar.
De quando em quando parávamos. Meu pai me segurava por um braço, para eu não andar nem fazer barulho, e punha-se assoprar no pio de madeira; não raro vinha a resposta de um inhambu de verdade, e pio de cá, pio de lá, ficavam os dois, o homem e o passarinho, numa espécie de conversa comprida que parecia não ter fim.
Quando tinha absoluta certeza de não haver pássaro nas imediações, então meu pai avisava que ia fazer pontaria num galho seco, em alguma fruta graúda - manga, fruta-pão, sapucaia - e dava ao gatilho. Se meu pai acertava o alvo, ou não, para mim não era o que mais interessava: eu só queria que ele matasse uns passarinhos para a gente levar e mostrar em casa... Isso não aconteceu daquela vez, nem de outra vez qualquer, nem antes nem depois.
Meio decepcionado, por ver meu pai voltar para casa de mãos vazias toda vez que se armava e saía dizendo que ia caçar, nunca mais me animei a ir com ele.
Até que um dia!...
Nosso lixo costumava ser posto numa lata de banha de vinte quilos, que se colocava à beira da calçada, junto ao meio-fio, bem defronte à porta da rua, a fim de que o lixeiro a recolhesse.
E nesse dia estávamos na sala de visitas, com passadeira para o consultório, quando um gato magriço começou a farejar a lata de lixo e a espichar-se para abocanhar dentro dela alguma coisa.
Fui correndo chamar meu pai, mostrei lhe o gato, fiz tudo para convencer o caçador a dar um tiro naquele bichano intrometido, até fiz menção de ir buscar a Winchester onde eu sabia que havia de estar.
Meu pai primeiro conversou, depois desconversou, fazendo crescer em mim a aflição. Mas o gato era demorado, minha insistência era muita, e o caçador afinal concordou em ir ele mesmo buscar a espingarda para dar um tiro exemplar naquele ladravaz de restos de comida.
Exultei com a resolução de meu pai, e vibrei de emoção quando o vi enfiar na culatra da arma a pequena balinha de cápsula dourada; ele preparou bem a arma e levou-a ao rosto, caprichando na mira. O tiro partiu, depois de meu pai certificar-se de que não vinha passante algum de um lado ou de outro da rua. E o gato, com miado de susto, afastou-se aos pulos.
Corri à porta, ansioso por ver a vítima de um tiro tão caprichado estrebuchar, talvez ao cabo de mais meia dúzia de saltos, malferida pela bala miúda... Qual? O que vi foi o gato muito lampeiro esgueirar-se por entre os gradis de um portão próximo.
A empregada doméstica viera às pressas da cozinha, correra até onde estava a lata de lixo, e, com uma risada para mim inadmissível, falou com minha mãe, que assomava assustada a uma das janelas:
Ah, dona Nair, o tiro de seu Getúlio acertou bem no olhinho do porco! E ela enfiava o mindinho da mão direita no buraco de bala, bem no lugar do olho de uma cabeça de porco estampada num dos lados da lata.

Publicado originalmente no jornal A ORDEM, ano LXII, São José do Calçado, domingo, 30 de agosto de 1987, nº 2.424.

Esta é uma publicação de cooperação entre o site Tertúlia e a Academia Calçadense de Letras.