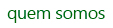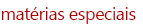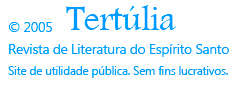De uma viagem ao interior do Estado
Da antiga fazenda de Afonso Cláudio de Freitas Rosa, em Mangaraí, avista-se um paredão de montanhas do sistema da Mantiqueira, onde se encosta a cidade de Santa Leopoldina. Mas o caminho até lá é plano. Vai-se por uma estrada que corre pelo fundo do vale do Santa Maria margeando o rio que se esconde atrás de barreiras de bambus.
Chegamos.
Ali está a cidade envelopada numa atmosfera ocre como se fosse uma gravura desbotada. Você tem a impressão de sentir o cheiro de estrume fresco deixado por tropas carregando café, dos tempos de riqueza. Mas é só impressão.
Impressionante mesmo é a força de uma obra de arte. Santa Leopoldina continua sendo a personagem eterna de Canaã. Graça Aranha, que morou na cidade por pouco tempo, se incorporou de tal modo à sua vida que não seria nenhuma surpresa se cruzássemos com ele carregando um embrulho de pão debaixo do braço nos preparativos da consoada vespertina.
Muitos habitantes de Santa Leopoldina parecem atores permanentes sobre os quais paira equivocadamente o drama de Maria Perutz, como uma espécie de pecado original. Aliás, um drama que, hoje, estaria nivelado com as cascatas de sangue que escorrem de nossos jornais sem causar maiores comoções...
Na viagem de ida, Luiz de Almeida e eu paramos alguns instantes, logo depois de Cariacica, para cumprimentar o Mestre Álvaro, alegre e pimpão na sua confortável aposentadoria, após anos e anos de trabalho orientando pobres pescadores desprovidos de bússolas em seus barcos. Muito justo que agora goze de seu ócio com dignidade, pousado naquela planície do Contorno. Luiz e eu ficamos muito admirados com a vitalidade do velho Mestre, esbanjando verdes matas e mais sacudido do que nunca tomando o sol da manhã. Esta lembrança de nossa montanha mágica se impõe como contraste com o que vejo nesta cidade bonita mas que parece murchar de tristeza desde a morte do pequeno Fritz, vitimado por um tonel de vinho que se desprendeu das amarras, como se sabe e está descrito de forma pungente no Canaā.
***
Num barzinho simpático, Miguel Tallon e eu tomamos uma cerveja acompanhada de pedacinhos de linguiça. Depois começamos a tomar outra com sardinhas em conserva. Coisas leves. Mas interrompemos nossa programação porque vieram nos avisar que estava na hora das solenidades no Fórum, em homenagem a Graça Aranha, afinal a razão primeira de nossa viagem. Fomos todos para lá. Boas palestras. Em especial a de Luiz Busatto com oportunas observações de ordem filosófica sobre o Canaã. Temas para reflexão posterior.
No transcorrer das palestras acentuou-se o sentimento de que Graça Aranha estaria por ali e talvez fosse possível convidá-lo para uma “saideira”. Isso não aconteceu, entre outras razões, porque na hora da saída do Fórum, um chato perdeu o guarda-chuva e ficou perturbando todo mundo com aquela perda irreparável. Quando demos por nós, o carequinha lá da frente, sobre o qual recaía mais fortemente a suspeita de ser o velho Graça, já havia escapulido. Ficou, portanto, impossível saber se se tratava mesmo do Graça ou de um impostor. Jogo na primeira hipótese mas não posso provar.
Uma alma caridosa veio nos informar que, ao contrário do que se propalava, havia, sim, um restaurante onde seria possível almoçar. Já eram quase três da tarde e a fome rondava. Ávidos, Luiz e eu fomos pegar o carro para ir até o restaurante, que ficava a uns cinco quilômetros, morro acima. Mas os duendes, esses detestáveis serezinhos, sempre prontos para nos pregar uma peça, estavam atentos Atire a primeira pedra quem ainda não foi vítima deles, quem, algum dia, não passou por esse pequeno vexame: a quebra do fecho ecler da calça. Estávamos já longe do centro da cidade. Além disso, o comércio não funcionava no sábado à tarde. E então? Meu reino por um alfinete! Havia poucas casas à margem da estrada. Olhei uma casinha modesta, com um alpendre. É esta, resolvi. Casas com alpendres espaçosos geralmente são habitadas por boas pessoas. Aliás, o que é um alpendre senão uma faixa intermediária entre as forças naturais e o recesso sacrossanto do lar? Entre as agruras das intempéries e o quentinho da cama. Alpendres produzem pessoas compreensivas dos contrastes e percalços do quotidiano. Enfim, depois dessa bem pouco isenta análise socioarquitetural, estou batendo palmas defronte da casa alpendrada. Aparece uma velhinha, uma fadinha de fábula infantil. Explico-lhe e ela me pede para entrar. Começava aí a comprovação de minha tese formulada com a rapidez das conveniências ideológicas. O meu problema causa geral consternação na casa humilde. Ninguém faz ar de mofa. O fato, porém, é que, depois de trabalhosa procura, concluem que não tinham nenhum alfinete em casa. Desanimado, agradeço a todos e vou saindo. Antes, contudo, de ganhar a rua, a velhinha me chama. O alfinete, ou melhor, falando francamente, um pregador de fralda apareceu na mão da velha senhora que o exibia como um troféu. Um troféu certamente surrupiado do bebê que chorava ao fundo e passara a sofrer de problema igual ao meu. Mas, afinal, ele estava em casa e um simples nó resolveria a questão, pensei eu, mesmo com um pequeno remorso. Ficou a lição de solidariedade daquelas pessoas de boa vontade que certamente compõem o exército de reserva que um dia será usado contra as manhas de Belzebu e suas 6.666 legiões. Penso também que, no caso, aquelas pessoas humildes seriam bons samaritanos disfarçados e constituem uma riqueza secreta de Santa Leopoldina.
Alfinetado e almoçado, junto com Luiz, voltamos para a cidade.
Visita ao Museu do Colono onde vernizes finos cobrem móveis de mogno. Baixelas, porcelanas de Sevres, louças com desenhos finamente trabalhados, cristais da Bohemia mas sobretudo um raio de sol batendo num velho bule de alpaca produzindo no feixe de luz que dividia a sala o limite entre o agora e o ontem. Um ontem por onde entramos ousadamente para cumprimentar a rainha Sissi e pedir a W.A. Mozart que parasse de rir e começasse logo sua apresentação, de preferência com um concerto para piano.
Precisávamos de estímulo para embalar nosso sonho onde reaparecesse Santa
Leopoldina em toda sua antiga prosperidade e vigor.