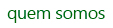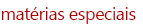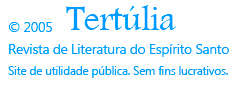Um mundo Eça/Vitoriense
Lisboa para mim é Eça de Queiroz tão completamente que ao desembarcar em Sacavém me vejo de pince-nez, nariz adunco e olhar irônico.
Subo o Chiado tendo por companhia esse aderente ectoplasma e vou experimentando surpresas. Ora pois pois, Lisboa é a minha Vitória dos anos quarenta/cinquenta. Por causa disso e por comodidade, os fantasmas passam a ser dois: um deles continua sendo o do “pobre homem de Póvoa do Varzim”, mas o outro sou eu mesmo em versão juvenil.
Até os anos cinquenta sentia-se uma influência portuguesa bem acentuada na arquitetura de nossa cidade. Mais tarde, necessidades urbanísticas e outras condições quebraram o velho aspecto da outrora pacata cidadezinha. Naqueles tempos havia um quê de manuelino pairando em janelas e portas antigas revestidas de cores diversas onde predominavam o roxo e o rubi. Caleidoscópios filtrando a luz da tarde. Marcos de porta em granito num trabalho feito para durar milênios. Milênios? Foi ainda outro dia que uma mangueira atrelada a uma potente bomba, através de certeiro jato d'água, derrubou a porta principal da Farmácia Roubach, firma estabelecida na Rua do Comércio. Uma porta trabalhada em fino artesanato de cantaria.
Inventam/dizem insones e excêntricos notívagos que em horas mortas, de preferência em plenilúnio de maio, é possível ouvir na Cidade Alta o tilintar de taças de cristal, duetos de madrigais quinhentistas e vozerio de festa, em especial no prédio vazio da Assembleia. Uma construção que se manteve fiel a uma linha avoenga e portanto lugar adequado para loas a D. Manuel I, na comemoração da chegada da caravela Glória a Vila Velha ou a discretos recitativos de cantares de amor. Diz-se ainda que é possível ouvir rememorações saudosas dos tempos do Reino, lembranças de lugares como Alemquer, Olivais, Covão da Carvalha, Vale de Ceta, Vale de Ventos, Moita de Poços...
Em Lisboa o hotel onde me hospedo lembra o antigo Hotel Majestic que ficava na Duque de Caxias, em Vitória. Defronte ao hotel lisboeta há um prédio onde funciona um jornal vespertino. De meu quarto vejo redatores, máquinas de escrever e alguém, talvez o chefe de reportagem, com uma previsível viseira verde na testa. De vez em quando um redator sai de sua escrivaninha e se debruça na janela. Todos os funcionários do jornal usam gravatas e camisas brancas. Ali está um deles, pitando seu cigarrinho. É provável que tenha vindo até à janela para olhar o céu, ver os barcos descendo o Tejo e se inspirar para o nariz de cera da matéria sobre as enchentes em Aveiro, na província do Douro, onde chove há semanas. Nariz de cera? Pude constatar que jornais portugueses preservam certa individualidade, certos laivos literários na redação da notícia, o que, para o bem ou para o mal, foi eliminado na imprensa brasileira. O jornalista volta agora para sua mesa a fim de escrever e talvez ligar as enchentes de Aveiro às próprias águas do dilúvio ou lembrar-se, num devaneio, de barquinhos de papel junto às bermas. Talvez não faça nada disso e o devaneio fica por minha conta, mas de qualquer modo há um clima de tempo sobrando.
Dentro da redação, no simulacro de Vitória antiga, vejo Rosendo Serapião debruçado à máquina de escrever, charuto baiano fumegante e pendente dos lábios, tentando formar a frase seguinte do editorial. “Mas é claro” – Rosendo Serapião dirige-se a mim com aqueles olhos deformados pelas grossas lentes dos óculos “mas é claro. Nesta construção o verbo deve estar no infinito. Rui, sempre Rui, estava certo. Ernesto Carneiro Ribeiro estava enganado.” Após esse costumeiro intervalo gramatical, Rosendo voltava para a máquina, completava o artigo de fundo e o remetia para a oficina.
O fantasma eciano me diz que é hora de deixar tais fumaças e ver Lisboa. Digo-lhe que está sendo difícil. Volto a mencionar a confusão de cidades que me anda pela cabeça e peço-lhe tempo. Eça porém insiste e me convida para ir ao Teatro São Carlos onde, na falta da Sassi, a cantora de ópera, está a apresentar-se a Companhia de Danças Martha Graham numa sessão especial para o público lisboeta. Mas ainda uma vez, pelo caminho, vou identificando pedaços da Rua General Osório e paro diante de uma réplica perfeita do edifício do antigo Clube Vitória. Um pouco à frente há uma vitrine de uma casa de comércio. Olho a placa e vejo que é A Colegial da Jerônimo Monteiro. Está toda iluminada porque é noite. Há pessoas descendo de automóveis que estacionam defronte ao Teatro Glória onde, na sessão única das 20 horas, está sendo exibido Divino Tormento com Nelson Edy e Jeanette MacDonald. Do outro lado da rua há uma banca de jornais onde muitos adquirem a revista O Cruzeiro. Resolvo não ir hoje ao cinema. De alguma forma, como nos sonhos, mesmo com A Colegial fechada consigo comprar um livro exposto na vitrine com o título Eça de Queiroz e o século XIX, de Vianna Moog. Pego o bonde e vou para casa. Não o bonde de Cascais, mas o que vai para Jucutuquara. Ao chegar em casa passo a ler o livro e altas horas da noite ainda estou às voltas com Antero de Quental fazendo preleções a um grupo de embuçados que o ouve silencioso sob a luz mortiça do luar. Em seguida, participo de uma reunião com os “Vencidos da Vida” onde há uma ceia com bacalhau e muito vinho verde originário da quinta do Conde de Arnoso, o Bernardo, que pertence ao grupo e é autor de um livro de versos chamado Azulejos.
O espectro eciano agora parece aborrecido com tantas recordações mas retornamos ao Chiado e nas proximidades da Casa Havaneza penso que vai me convidar para um grogue. Mas Eça vira para a esquerda e entra na Livraria Bertrand. Estou certo que o velho Queiroz está a me armar uma peça. Há aquele riso mal contido que lhe sai pelo canto da boca e que lembra um pouco o meu amigo e grande eciano que foi Paulo Vellozo. “Aqui está” – diz Eça estendendo-me um livro – “um presente” – acrescenta. Olho o título: A emigração como força civilizadora. Um inédito de Eça de Queiroz que estava sendo lançado naqueles dias.
Como nas fábulas antigas, as primeiras claridades da manhã dissolvem os espectros.
Levanto-me da cama em Vitória nestes anos noventa e vou até a mercearia mais próxima de minha casa. Ao virar a esquina, um susto que durou alguns décimos de segundo. De repente, tive a sensação de estar sendo observado por alguém debruçado a uma máquina de escrever e com uns olhos deformados por lentes grossas de óculos. Mas tratava-se apenas de uma placa pregada num canto de prédio que nunca havia notado antes e onde se lia: Rua Rosendo Serapião. Homenagem ao velho jornalista que frequentou as visões espectrais de ainda há pouco no simulacro das antigas redações de A Gazeta e A Tribuna.