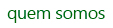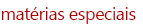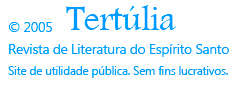Em dia de véspera
Deny Gomes me disse certa feita que São José do Calçado é para mim uma fonte inesgotável de memórias. De fato minha amiga tem razão. Eu diria mesmo que, além de inesgotável, impossível, em alguns casos, de expressar com clareza. Afinal, onde colocar o calor propício do oco de capim de que a vaca havia se levantado na madrugada fria das férias de julho em que eu e meu irmão nos deitávamos um instante para fugir do rigor da temperatura, rezando para que o sol chegasse? Com que palavras traçar a visão dos pontões, lá para os lados de São Benedito, miragem das horas amenas que passam na tulha do terreirão? Como descrever a majestade da Serra do Bandeira e da Pedra do Jaspe, este elevado fundamental que se vê de quase todos os pontos da cidade? Como traduzir o orvalho, o banho das libélulas – que em Calçado se chamam lava-bundas –, a sutil arquitetura das aranhas, a tempestade que chega de repente, o trovão ensurdecedor que se escuta agarrado à mão do pai?
Coisa de que me lembrei ainda há pouco foi do dia anterior ao abate do porco. Esse evento se repetia com frequência de trinta a quarenta dias. Um dos capados do chiqueiro, o mais gordo, escolhido a dedo por meu pai, seria abatido na manhã seguinte. No almoço desse dia anterior, minha mãe servia a última iguaria da lata de banha onde ficavam guardadas as carnes de porco, item fundamental da nossa dieta naqueles tempos. Trata-se do bucho do porco recheado com farofa de pernil e toucinho. É um prato inimaginável nestes dias tão salubres. Implacavelmente lavado com limão, virado e revirado nessa assepsia cuidadosa, por um pequeno corte numa de suas extremidades era fartamente recheado, até ficar bem redondo e duro. Costurado, ia para o tacho de zinco em trempe de três pedras no quintal cozinhar com outras carnes. Depois de cozido, sofria meia fritura. Ligeiramente corado, o bucho recheado ia para o fundo da lata dormir sua quarentena, último item servido para sinalizar que na manhã seguinte o porco gritaria.
Algumas pessoas diriam que esse prato, servido com arroz papado, que era da preferência de meu pai, o arroz longamente cozido, algum refogado de erva amarga, palmito amargoso ou jiló e o imprescindível acompanhamento de feijão ralado e angu, angu que é mistura de fubá e água, e só, sem sal ou gordura, e duro, no ponto de corte, uma iguaria de cor amarela na travessa cuja raspa dura na panela era disputadíssima, algumas pessoas diriam que esse prato, o bucho recheado, que se repita, é uma ignomínia. Pois verdade é que tínhamos de comê-lo sentados, pois comê-lo em pé era temerário. À primeira porção no estômago, tremiam as pernas, zumbiam os ouvidos e por pouco não se turvava a vista. Mas que delícia, que suprema maravilha é o bucho recheado com farofa de pernil e toucinho curtido por quarenta dias na espessa gordura do porco. Depois de receber a fritura final, com panela tampada por causa dos fatais espirros de gordura quente, surgia sobre a mesa em sua cor de alcatrão e nuanças esverdeadas, espalhando seu cheio de coisa ancestral pela casa toda. Cabia a meu pai, com sua perícia com a faca afiadíssima, cortar as rodelas com que nos serviríamos. E era aquela maravilha de silêncio recortado por barulho de talheres e olhares cúmplices. A melhor parte dessa delícia suprema era, sem dúvida, a farofa impregnada de gordura, misturada lentamente com os demais itens da refeição. Depois de vazio o prato, ficávamos nós, os meninos e os adultos, roendo lentamente as fibras duras do bucho, até que déssemos conta de comer tudo. Com mais, éramos seres sonolentos trocando olhares enevoados e felizes. Nesse dia, exceto minha mãe, que nunca se deita durante o dia, todos tirávamos um cochilo do qual acordávamos ainda meio entorpecidos.
No meio da tarde, meu irmão e eu íamos procurar nosso pai. Pela greta da porta de seu quarto, nós o víamos verificando o pequeno punhal com que, com perícia extrema, abateria o capado na manhã seguinte. Meu pai tinha o olhar tranquilo e provedor. Meu irmão e eu conhecíamos nossas obrigações nesse dia, íamos apenas confirmá-la com nosso pai, reafirmando nossa participação nesses eventos felizes que antecediam o dia do porco. Estamos indo, dizíamos a ele que, tornando-se para nós, recomendava que não esquecêssemos da corda para amarrar o monte de palha seca de bananeira e que tomássemos cuidado com as jararacas. A palha seca da bananeira era indispensável para despelar o porco que, antes de ser aberto, ardia no fogo alaranjado da palha que espargia uma fumaça de cheiro adocicado pelo ar.
Quando voltávamos com a palha, meu irmão e eu, já tia Alzira, tia-avó paterna fundamental para o interminável cortar, picar e repicar a carne de porco do dia seguinte, perita formada e reformada nesses assuntos de arrumar capado, fritava cálidos biscoitos de polvilho. Minha mãe fervia água para o café da tarde. Ao fim do dia éramos seres felizes e esperançosos. Eu, meu irmão e minhas irmãs, afeitos a convívio tão festivo, admirávamos as grandes, belas e provedoras mãos de nosso pai, inundados pela alegria que ele e minha mãe faziam cair sobre nós feito chuva amena.