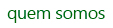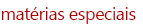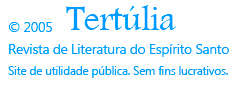A nave se vai
A nave é azul e está ancorada no alto da colina. Parece firme como rocha, mas flutua. No casco reformado, abaixo da linha d’água, mãos atrevidas pintaram a spray arabescos enigmáticos. São grafitos em azul, vermelho e preto, lançados em movimentos ágeis e determinados.
Há nestes traços curtos um sentido mágico, que remonta às cavernas de Cro-magnon, e que escapa ao comum entendimento.
É necessário conhecer-se o código secreto que os motivou, a inspiração instantânea que os idealizou para que os ideogramas se tornem inteligíveis. Do contrário, serão apenas signos misteriosos e impenetráveis, proclamas de amor ou de ódio adormecidos em seu oculto significado, compreensíveis somente pelos que os puseram ali, na quietude das horas vazias, longe dos olhos das testemunhas oculares, provavelmente no silêncio das alvoradas nascentes ou nas mortiças horas das noites tardias.
Se o capitão da nave azul estacionada no alto da colina ainda tivesse o comando na mão, por certo reuniria no tombadilho de tábuas corridas e lisas a jovem tripulação de outros tempos, que sempre o ouvia atentamente, e, na prédica quase sacerdotal de todos os dias, diria, referindo-se aos grafitos em azul, vermelho e preto: “la muraille, papier de la canaille”.
Hoje, porém, velho capitão, os tempos são menos ortodoxos, vive-se a era das ríspidas estridências metálicas, das desvairadas proclamações logocrípticas de amor e de ódio, feitas pelos caminhos possíveis à humana comunicação, quer sejam gravadas no papel das muralhas, de que os grafitos são mostra, quer relampejem nas telas eletrizadas dos computadores.
A frase moralista pertence, portanto, a uma época já ida, quando as marselhesas obedeciam ao frisson dos tambores e não à arritmia das paranoias como acontece neste inquietante final de milênio.
Que a nave se vá, e boa viagem.
Reúnam-se, pois, todos os que, vivos e mortos, fizeram parte de sua tripulação luzidia.
Assobe, assobe, minha gente, que se vai levantar âncora e dar a partida. E a mim, gajeiro que tem os pés cravados em terra e que aqui estou a perlustrá-la –, caiba a tarefa de lhe dar, num gesto de sonho, a total liberdade da viagem sem volta, de desancorá-la do tope da colina onde se finge enraizada, impulsionando-a com um peteleco leve e um breve sopro, um quase suspiro, como se faz aos barquinhos de papel no espelho dos lagos.
Eis-me, portanto, embaixo do casco da grande nave, entre sua popa larga e a igreja de São Gonçalo. O sopro e o empurrão que lhe dou são tão brandos que parecem carícia. Mas é o bastante.
A nave se solta de suas invisíveis amarras e começa a deslizar mansamente, passa pela capelinha branca diante das vistas benévolas de Santa Luzia, segue em direção à catedral de agudas torres e, daí, para além dos limites da ilha em que se mantinha pousada em posição de relevo.
Vejo-a afastar-se, não como um navio fantasma, mas como uma casa amiga, indo-se, não sobre a terra ou sobre o mar, mas envolta em nuvens – brumas talvez.
É um monumento azulado que parte devagar, imperceptivelmente, navegando em plano vaporoso. Fellini? Por que não?
Ela se distancia com sua fileira de janelas retangulares, o mastro frontal e oblíquo sem bandeira, a escada de pedra estendida a bombordo, o grande castelo banhado de luz levando, no seu interior, o emblema oval cujo dístico poético lhe servia de norte: o livro, este audaz guerreiro, que conquista o mundo inteiro.
A bordo, penso entrever o velho capitão das citações latinas e neolatinas, e outros capitães não menos notáveis portando nas mãos os rolos de suas cartas de pilotagem com a variada cartografia das ciências do homem e da vida.
Mas qual! Tudo isto que julgo ver não passa de ilusão deste guerreiro livresco cuja audácia consistiu no atrevimento onírico de dar asas à nave, num afago levíssimo.
Respiro fundo, pois tremo.
Percebo, então, postado entre a igreja de São Gonçalo e a nave ancorada no ápice da colina, estampando no casco criptogramas pintados em azul, vermelho e preto, abaixo da linha d’água, que não é ela que se afasta de mim, mas eu dela, e que o nome que leio em seu frontispício não é São Vicente de Paula, mas de Paulo, e que até nisso, na leitura das letras, meus olhos entorpecidos de ex-marujo da nave azulada brincam comigo de faz de conta.