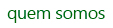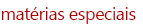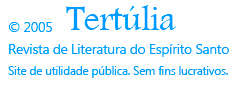O pesadelo do fantasma
- Quero lhe contar meu pesadelo - disse o fantasma do centro histórico de Vitória puxando-me da escadaria da Misericórdia, por onde eu descia descuidado, para o jardinzinho contíguo e arbóreo, na cidade alta.
- Fantasmas têm pesadelos? - perguntei espantado e (a bem da verdade) interessado em ouvir o que ele tinha a dizer.
- Eu pelo menos tenho... - disse o fantasma. - E o desta noite não foi nada agradável, meu digno. Razão pela qual preciso exorcizá-lo contando a você.
- Então conte - estimulei-o sentando-me ao seu lado num banco do jardim que, para minha sorte, estava deserto de pessoas como é de praxe naquele bosquejo de bosque silencioso e solitário da cidade alta.
- Você já leu O asno de ouro, de Lúcio Apuleio? - perguntou o meu interlocutor cravando-me os olhos frios e baços que nunca sei se a terra já comeu nas órbitas afundadas.
- Li e reli.
- Pois aconteceu comigo! - disse o fantasma.
- Aconteceu o quê?!
- No meu pesadelo eu me transformei num asno igual ao Lúcio do romance que também li quando era gente. E apesar de transformado em asno, conservava a minha inteligência humana, embora me sentisse o fantasma que eu sou no corpo do quadrúpede em que me tornei, deu para entender?
- À semelhança do que sucedeu com Lúcio que, todavia, não era fantasma, mas um ser humano - disse demonstrando compreender a explicação que me foi dada.
- C’ést exact, mon ami. Nada como conversar com pessoas ilustradas.
- Mas... e o pesadelo?- provoquei-o com interesse escancarado.
- Écoute-moi - disse o fantasma. - Eu tive uma noite infernal, com febre alta e intensos calafrios, seguidos de delíquios intermitentes. Depois de um deles, quando dei por mim, o dia amanhecia em meu pesadelo e eu estava na enfermaria da Santa Casa de Misericórdia, na Vila Rubim, ao lado de alguns enfermos. Antes que me apercebesse do estado irracional em que me transformara – naquele momento já tinha virado asno por artes diabólicas da Fortuna – entrou na enfermaria o provedor da Santa Casa bradando enfurecido: “O que esta animália está fazendo aqui dentro? Ponham-na imediatamente para fora.” Eu olhei para um lado, olhei para outro e só quando reparei nas minhas quatro patas e na posição de quadrúpede em que me encontrava é que entendi que era a mim que o exaltado provedor se referia. Você nem imagina, meu digno, o estupor de que fui tomado e a profunda tristeza que me arrasou.

Sem ter tempo de entender o bestial estado em que me havia transformado, fui arrastado por dois hercúleos enfermeiros que enfiaram uma correia no meu pescoço e me puxaram à força bruta. Lá fora, para minha surpresa, uma fileira de burros atrelados a carroças carregadas de terra estava prestes a partir para algum lugar que eu ignorava qual fosse. O mistério logo se esclareceu quando um dos meus algozes disse para o outro: “Atrele este ruço (o ruço era eu) a uma das carroças sem burro, do seu Serafim Derenzi, para levar aterro pro Campinho!” Pela frase que ouvi, depreendi logo, meu digno, que eu seria mais uma dentre as dezenas de cavalgaduras que, como você sabe, foram empregadas para aterrar o antigo alagado do Campinho, dando origem ao Parque Moscoso com terra retirada do morro da Santa Casa. E logo no governo do notável Jerônimo Monteiro, a quem eu, com honra e dedicação, servira em vida como secretário adjunto!
- Que situação humilhante! - comentei condoído da má sorte do fantasma em seu pesadelo.
- Degradante situação, digo eu. E o pesadelo estava apenas no prefácio. Se não errei nas contas, naquele dia em que virei burro de carga foram mais de cinquenta viagens, das sete horas da manhã às seis da noite, transportando laboriosamente terra para os charcos do Campinho. Mal tínhamos tempo, eu e meus colegas de profissão, de matar a sede ardente que nos torturava em nosso trabalho fatigante. Cansei de passar perto da Fonte dos Cavalos, a mais antiga no terreno que estávamos aterrando, sem poder sorver um chuvisco d´água, trazido pelo vento. De sorte que, quando baixou a noite, sobrou-me apenas ânimo para comer uns míseros e abomináveis bocados de capim, e descansar o corpo extenuado na estrebaria da Santa Casa, onde fomos confinados. Nada familiarizado com trabalho tão desumano, tendo sido lanhado com lambadas para manter o ritmo das passadas na procissão dos burros carroceiros, eu resistia em aceitar meu novo e infeliz destino. E quem o aceitaria resignadamente? Neste estado de dor e incredulidade acordei de manhã, dentro do meu pesadelo, decidido a me rebelar contra a sina cruel que sobre mim se abatera. E tão logo raiou o dia, pude ver, com meus novos e esbugalhados olhos, um galho de rosas brancas que, tangido pelo vento matinal, se infiltrava pela estrebaria adentro, fazendo-me recordar que foi mascando rosas que Lúcio Apuleio se libertou da deplorável condição asnática em que fora embruxado. Mais que depressa, de bocarra arreganhada – horrenda figura em que eu me via no pesadelo qual desenho de Picasso –,

avancei aos trambolhões por entre os outros burros, escoiceando uns, atropelando outros, para abocanhar por inteiro o galho com as rosas, folhas e espinhos que mastiguei ruidosamente transformando-o num só bolo que, ai de mim, engoli numa voracidade de glutão. Contrariando, porém, a minha expectativa, o efeito imediato da minha gulodice foi o de sangrar-me os beiços e a língua, de mistura com uma baba pegajosa que pingava ao chão da beiçola salivante. Deste modo, a desejada metamorfose que me devolveria à forma de fantasma e a ansiada libertação da ínfima figuração de animália enfeitiçada, nem sinal! Para aumentar tamanha desdita, chegou-me às orelhas empinadas e alertas a voz esganiçada, já minha conhecida, do odioso provedor da Santa Casa que berrava descabelado: “Levem este maldito asno, comedor do nosso roseiral, para puxar os bondinhos da cidade antes que o trucide a cacetadas.”
- E você foi levado? – perguntei ansioso interrompendo a narrativa.
- Levado não! Por força da ordem imperiosa fui, a poder de pancadas dolorosas e puxões truculentos, arrastado para o pesadíssimo serviço dos bondinhos de Vitória, lembra-se deles, meu digno?
- Lembro pelas fotos da época - apressei-me em esclarecer.
- Eram puxados por uma parelha de muares sob as rédeas e o látego do condutor- prosseguiu o fantasma. - Rédeas e látego com que ele ditava a andadura dos burricos. Pois foi para formar uma dessas parelhas que desgraçadamente fui levado em meu pesadelo para meu novo serviço, tendo um burro velho por parceiro de infortúnio. Resultado: a maior parte do esforço de tração recaía no meu lombo, junto com as chibatadas do impiedoso condutor.

A experiência que vivi, no vaivém do itinerário percorrido entre o antigo cais Schmidt e o Forte de São João, não desejo para meu pior inimigo. Para aumentar minhas agruras, quando passava com o bondinho pelos quiosques de comes e bebes que havia na Rua do Comércio, um cheiro capitoso de linguiça frita invadia minhas narinas provocando agudas dores de saudade em minhas tripas, ainda desacostumadas do gosto insosso do capim.

Este sofrimento se repetia, mas pelo lado emocional, quando o bondinho por mim puxado entrava pela Rua do Rosário e subia a Ladeira São Cristovão, de onde eu podia divisar a casa onde morei anos seguidos, com seus manacás cheirosos, o pé de tília em floração exuberante visitado por abelhas inquietas e a minha espreguiçadeira, vazia e solitária exposta na varanda, o que fazia marejar de lágrimas meus olhos protegidos por antolhos. Era mil vezes preferível puxar as carroças com o aterro para o Parque Moscoso a ter de arrastar pela cidade um daqueles bondinhos de quatro bancos, mesmo quando vazio de passageiros! Não é de estranhar que na noite desse dia em que estreei no ofício de puxador de bonde me sentisse tão exausto e dolorido, que nem sequer consegui dormir em pé, tendo de fazê-lo deitado no curralzinho a céu aberto onde fui deixado, perto do Convento do Carmo. E assim que a noite percorreu as suas horas, como diria Lúcio Apuleio, vendo eu ao acordar a fragilidade das varas do cercadinho em que pernoitei, não pestanejei um segundo: arremeti contra elas num ímpeto cavalar de que não me supunha capaz, destroçando-as em pedaços e ganhando a liberdade.

Uma triste liberdade, meu digno, porque eu permanecia preso no couro e no corpo de um ser bruto e irracional. Mas o que me importou naquele momento foi dar nos cascos o mais depressa possível antes que algum capataz do senhor Aristides Navarro, que explorava o transporte dos bondinhos de Vitória, repusesse a canga da servidão sobre os meus sofridos costados. De crinas ao vento, galopando às loucas, desembestei pela Rua da Capelinha rumo ao morro da Fonte Grande em cujo sopé estaquei bufando, literalmente cor de burro quando foge. Ali, diante de uma sombria encruzilhada, prestes a fugir encosta acima e evadir-me para sempre pela mataria densa, vi – imagine você, meu digno, o que eu vi em meu pesadelo, como sublime dádiva dos deuses?
- Não faço a menor ideia e a curiosidade implora que me diga o que foi – apelei redobrado em ansiedade.
O fantasma não se fez de rogado: - O que vi foi um despacho, meu digno! Um despacho debaixo das minhas fuças, com charutos; velas negras e vermelhas; garrafa de cachaça; tigela com canjica cozida, tudo disposto em torno de uma pequena imagem de São Jorge que tinha ao seu lado, qual maná caído do céu, um petitoso buquê de rosas ainda úmidas do orvalho matinal! Só que desta vez as rosas não eram brancas, mas vermelhas como as que desencantaram Lúcio da deformação de burro, no romance O asno de ouro.
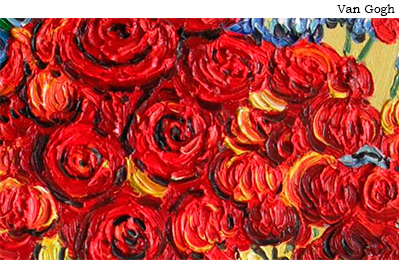
Se eu traguei as rosas rubras e macias? Traguei-as propriamente não, meu digno, porque minha experiência anterior de comedor de rosas recomendou que não repetisse o erro formidável. O que fiz foi mascá-las uma a uma com leves trituradelas rituais apesar dos meus dentes atijolados, tendo o cuidado de não as engolir sem invocar Ogun como orixá benfazejo para que as rosas que eu mastigava resultassem em favor da minha reconversão à perdida dignidade de fantasma. E com tal fé e esperança me devotei ao cerimonial degustativo que a cada mordidela que eu dava, entre trêmulos relinchinhos de prazer, uma parte do meu corpo de quadrúpede se desfazia aos meus olhos, recompondo-se paulatinamente no fantasma que eu era e que eu sou. Por fim, foram-se meus dentes duros e amarelos e meu rabo de pelos espichados, últimos vestígios do asno que eu fui deixando no ar um sublime perfume de rosas moídas e remoídas que antes de acordar eu aspirava deliciado pela minha bem-sucedida reencarnação fantasmal, se posso aplicar ao meu caso a expressão figurativa.
Depois que contou seu pesadelo, vendo-me calado e pensativo, inquiriu o fantasma: - Você não tem nada a dizer sobre o que acaba de ouvir?
- A conclusão que eu tiro - disse eu - é a de que nem sempre uma rosa é uma rosa. No seu pesadelo você se socorreu primeiramente de um punhado delas que não satisfizeram o anseio de transformá-lo de asno em fantasma, tanto que foi necessário repetir a tentativa com as rosas vermelhas do despacho. Ou será que a experiência teve êxito graças à propiciatória interferência de Ogun?
- Pense o que quiser sobre as rosas do meu pesadelo - disse o fantasma. - A mim me alegra ter recuperado minha leveza de espírito ao contá-lo a você.
Com estas palavras de incontido contentamento o fantasma deixou-me no banco do jardim a filosofar sobre o pesadelo que ouvira e sobre o verso de Gertrude Stein que a ele associei: a rose is a rose, is a rose, is a rose.