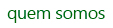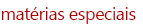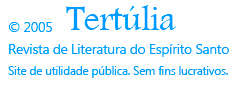O fantasma e o cine Éden
 “Todo enfatiotado, hein, meu digno?”, gadunhou-me o fantasma do centro histórico de Vitória quando eu saía apressado para pegar um taxi após a solenidade, alguns anos atrás, de reinauguração do Teatro Glória, adquirido e reformado pelo SESC.
“Todo enfatiotado, hein, meu digno?”, gadunhou-me o fantasma do centro histórico de Vitória quando eu saía apressado para pegar um taxi após a solenidade, alguns anos atrás, de reinauguração do Teatro Glória, adquirido e reformado pelo SESC.
A aparição desastrosa me fez perder a condução que acabou ocupada por uma senhora espevitada que também deixava o teatro, naquela noite de sábado.
O mais desagradável é que com a pergunta debochada veio de rescaldo o bafo mefítico do fantasma, atirado sem cerimônia a minha cara dando-me ânsias de vômito. Desviando o nariz, perguntei, num repique seco:
“Você comeu algum camundongo?”
Ele tolerou a agressividade e até se explicou:
“Peço perdão pelo mau hálito, meu ínclito. Eu sei que às vezes ele é nojento, mas o que posso fazer? São resquícios de matéria orgânica que resistem impregnados nas entranhas do meu espectro. Um dia vão desaparecer completamente e poderemos conversar sem que você vire o rosto, como fez agora.”
A desculpa embutia uma ameaça terrível: por um tempo indeterminado eu ainda teria de aguentar suas futuras aparições e seu miasmático odor bucal. Por quanto tempo abusarás do meu olfato, ó fantasma do centro histórico de Vitória? – cogitei enfiado em minha fatiota, enquanto ele atiçava o pavio de uma conversa indesejada àquela hora.
“Observando você todo frajola, de paletó e gravata, eu me revejo mais de cem anos atrás na inauguração, neste mesmo local, do cine Éden, o primeiro de Vitória, construído de madeira e coberto de zinco pela companhia Camões & Mayo”, disse ele.
“Meu caro fantasma, você me desculpe, mas estou com um pouquinho de pressa...”, tentei apelar a sua consciência, se é que lhe restava alguma impregnada no espectro.
“Um minutinho apenas, meu digno, que já o libero. Mas faz o cálculo. Veja quanto tempo se passou de 1907 até hoje. E, no entanto, ainda me recordo de tudo! Tal como você, eu estava todo enfarpelado, só que, modéstia à parte, mais alinhado, bem mais alinhado, com uma elegância estilo eduardino. Eduardino ou eduardiano? Pouco importa! Você sabe a quem estou me referindo, não é mesmo? A Eduardo VII, rei da Inglaterra, mentor da art de l’elegance no dealbar do século XX. Eu o tinha por modelo. Eu e muitos da minha geração, em Vitória. Tanto que era pelo seu figurino finíssimo que eu estava trajado, na inauguração do cine Éden. Trajado com aplumb, repito! Vou até lhe confidenciar um segredinho...”
“Não pode ficar para outro dia, meu caro fantasma?”, implorei com humildade.
“Um minutinho, nada mais do que um minutinho. Garanto que vai gostar do que vou contar ao pé do seu ouvido.”
Indiferente ao meu apelo, o fantasma avançou sobre minha orelha como se fosse abocanhá-la e vangloriou-se: “Nainauguração do cine Éden, o degas aqui estava soberbamente acompanhado de uma belle et jeune femme da alta sociedade vitoriense. Um biscuit de criatura, de saia rendada que fazia frufru quando mexia, com franjinha na testa. Mademoiselle é quem tinha a franjinha, me entenda! (E o fantasma soltou uma risada de azedume mortal, ao fazer a ressalva). Uma franjinha que ia até as sobrancelhas, cortininha sensual que dava gosto assoprar. Lembra-se das franjinhas das moçoilas daquela época? Não, você não as conheceu. Pois a minha belle femme tinha franjinha, um encanto de pelagenzinha dourada! Não sem razão cheguei a alimentar pretensões esponsalícias em relação a ma douce petite. O nome dela? Não me peça o nome, que para tais assuntos sou mudo como paralelepípedo! Chamemo-la mademoiselle M, mysterieusement”.
“Não quero saber o nome da sua misteriosa demoiselle. Quero é ser liberado, porque passa da meia-noite”, retruquei aborrecido.
“É a minha hora preferida...”, disse ele.
“Mas não é a minha”, rebati com dureza.
“Que diable, meu digno, você não me ludibria com sua alegada pressa. É próprio dos historiadores serem curiosos, e você é um deles! Mas o máximo que vou lhe dizer é que várias vezes, écoute-moi, eu fui ao cine Éden com a mesma graciosa e prendada senhorinha. Naquele tempo, uma jovem ir ao cinematógrafo com um homem que não era seu marido era uma provocação social, ato de coragem que beirava a rebeldia. E ela fez isso porque estava caidinha por mim. E sabe quem também andava de olho em mademoiselle M? O meu excelentíssimo amigo, o comendador Deodato. Mas isso eu só soube depois que nós morremos, quando ele me confidenciou num desabafo de fantasma para fantasma. Infelizmente, para mim, ma douce petite acabou contraindo núpcias com outro, por imposição paterna. Uma imposição irresistível a que ela teve de ceder, apesar do seu espírito independente. Afinal, como disse Hamlet, fragilidade, teu nome é mulher!”, concluiu o fantasma numa evocação suspirosa.
“Imposição paterna?”, escorregou-me a pergunta num descuido, do qual logo me arrependi.
“Patriarcal imposição”, exagerou o fantasma, satisfeito com meu interesse. “Sabe por quê? Porque eu era um peroá de quatro costados, devoto de São Benedito do Rosário, e ela, e toda a família, eram caramurus doentes, de haurirem o cheiro do incenso na rua do Cruzeiro, onde moravam, no morro de São Francisco. Eis o âmago da questão pela qual não nos consorciamos, tornando-me um solteirão irremediável. Desde então, e mesmo depois de morto, nunca mais pisei na rua do Cruzeiro. Você sabe onde ela fica, na cidade alta? Hoje tem outro nome, nem quero saber qual é. Da minha amada eu recebi uma cartinha dolorosa, trescalando a sândalo, que terminava com uma beijoca de batom impressa no final da página, rubros lábios que me pediam desculpas, desfazendo nossos tenros laços de afeto. Foi o único beijo que ganhei dela, tadinha. Vou fazer outra confidência muito íntima, mon ami: sabe como ela me tratava com sua doçura feminil? Me chamava meu querido surubim, numa alusão cheia de carinho ao meu bigode, mon moustache, escuta só, que ela achava parecido com o do surubim. E pronunciava a frase na fonética francesa, fazendo um biquinho encantador, assim: mon cherri sirriben. Não vire o rosto, meu digno, veja como eu a imito graciosamente:mon cherri sirriben. Não é catita? Aliás, era no idioma de Victor Hugo que muitas vezes nós conversávamos em nosso namorico. Seis meses depois da cartinha de rompimento ela se casou com um alfaiate, escuta só, que nem estabelecido era. Um caramuruzinho fedegoso que trabalhava para Resemini & Leoni, a grande alfaiataria da praça Santos Dumont, no centro de Vitória, aqui perto. A mesma alfaiataria da qual o seu avô, o ínclito e elegante doutor Jones, excelentíssima pessoa, era freguês habitual. Depois, o casalzinho de pombos foi morar em Cachoeiro, onde eu espero que ela tenha sido feliz entre tesouras, alfinetes e ferro em brasa...”
“Meu caro fantasma, já é meia-noite e trinta...”, tornei a reclamar diante da sua tagarelice desatada, mostrando-lhe o relógio.
“Calma que estou terminando... Apesar de nunca mais ter visto mademoiselle M, nem mesmo depois que ela e eu desencarnamos, sempre associei sua lembrança à inauguração do cine Éden, aqui onde estamos e onde ficava também o Éden Park, um dos poucos lugares em que a sociedade vitoriense espairecia. No cine, além das fitas do cinema mudo, eram apresentadas sessões de récitas e alegres operetas. Tempos edênicos aqueles, com seu ancien charme digno de um epicédio que você podia compor como escritor. Um dia, sem mais aquela, acabaram com o cine Éden e com o parque. No seu lugar, ergueram esta coisa paquidérmica que se chama teatro Glória, onde só entrei raras vezes para assistir a artistas famosos, como o grande Procópio Ferreira em A morte do caixeiro viajante, e Vicente Celestino, cantando o Ébrio (e o fantasma se pôs a cantarolar, ‘tornei-me um ébrio e na bebida busco esquecer, aquela ingrata...’).
“Pelo amor de Deus, fantasma, não vai começar um recital a esta hora...”, interrompi-lhe a empolgação.
“Desculpe-me, mais uma vez. O que quero dizer, écoute-moi, é que os filmes falados, que passavam aí no Glória, nunca me tocaram a alma. Nunca jamais, como diria Rui Barbosa, o Águia de Haia. Agora, meu digno, aplaque minha curiosidade e me conte como foi a inauguração a que você compareceu. Apesar de não gostar do Glória quero ouvir o que tem a me dizer. Valeu a pena?”
Estive para dizer que valeu, porquanto a reforma e revalorização do teatro, que nunca foi uma construção de madeira e coberta de zinco como o Éden, representavam uma conquista cultural para o Estado. Mas temendo que a resposta criasse mais um gancho na lengalenga cascateante do fantasma, preferi escafeder-me, dizendo: “Outro dia eu conto, meu caro!” E atirei-me precipitadamente dentro de um táxi que passava em boa hora, onde afundei com um suspiro de alívio.
“Fuja daqui rapidinho”, ordenei ao motorista. “E para o nosso bem, não olhe pelo retrovisor.”