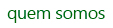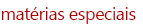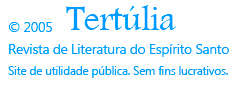O homem vestido de verde
Sinto que tenho de matar o homem vestido de verde que varre o asfalto da rodovia. Ele está a poucos metros de mim, do outro lado da pista.
Nada vejo do seu corpo – os braços ocultos no uniforme verde-espantalho, as mãos enfiadas nas luvas negras, os pés metidos em botinas grosseiras, os olhos inalcançáveis por trás dos óculos escuros. Do boné que tem na cabeça descem duas abas laterais que lhe chegam ao queixo e cobrem sua boca como se fosse mordaça, protegendo-a da radiação solar.
É um ser estranho, metido na indumentária que o imuniza do sol ardente que paira sobre nossas cabeças. Difícil crer que dentro daquela armadura de pano impermeável habita uma criatura humana.
Em movimentos mecânicos, o homem vestido de verde varre com uma grande vassoura de piaçava a terra seca que o vento espalha pela borda da rodovia asfaltada. Há muita terra para ser varrida, sob o sol abrasador, antes que termine o seu dia de trabalho.
Ninguém o fiscaliza e, no entanto, ele se concentra na faina que faz com a meticulosa obstinação de um insensato. Na manhã seguinte, recomeçará como um autômato o serviço interrompido no ponto em que parar, se mais terra não tiver coberto o trecho varrido na véspera. Pode até acontecer – cai sobre mim a ideia maluca – que o homem vestido de verde possa permanecer interminavelmente a varrer o mesmo trecho de rodovia, sem nunca sair do lugar e, ainda assim, não deixar de cumprir sua infatigável tarefa de condenado.
Porque é um condenado que eu tenho diante dos olhos. Um pobre condenado a quem foi imposto o suplício terrível de varrer uma estrada impossível de ficar livre da terra que sobre ela se dispersa com o vento. Uma criatura humilde que se viu condenada a expiar uma pena cuja razão e sentido lhe fogem ao entendimento, mas que a cumpre resignadamente em sua solidão submissa, à margem da rodovia infinda, à margem do mundo.
É por causa dessa simplicidade comovente com que se desincumbe de uma tarefa absurda e dantesca que eu tenho de matar o homem de verde, libertando-o do castigo cruel que o desumaniza e ofende. A morte que vou lhe impingir será uma morte bem-vinda, um gesto de caridade da minha parte para a redenção de um torturado.
Já decidi até como redimi-lo da pena que sofre. Atravessarei devagar e com jeito amistoso a pista de asfalto que nos separa um do outro, para ir ao seu encontro na tarde de sol inclemente, e quando o tiver ao alcance do meu braço fatídico, rompo-lhe a cabeça com uma pancada brutal.
A arma que usarei é o único instrumento que tenho à mão, apto para a fatalidade irrevogável que premedito: a minha máquina de fotógrafo profissional.
Sei que terei de usá-la com precisão e certeza, transformando-a num objeto de infalibilidade mortífera. Contando com a sorte, acredito que com três ou quatro pancadas duras e firmes, bem assentadas com a quina da máquina, prostrarei por terra o homem de verde.
Foi para fotografar o cenário de montanhas e vales por onde se estira a estrada, entre lavouras de café e bosques de eucaliptos, que eu parei neste lugar e dei com quem dei - o homem a quem estou destinado a matar. Uma trama traçada pelos fados maléficos, num dia de calor insuportável?
Não me apetece examinar a questão. O quadro está armado, e eu, de minha parte, me armarei como posso, com a máquina que trago pendente do ombro por uma alça de couro.
Claro que seria mais seguro para a eficácia da minha criminosa intenção se eu dispusesse de um revólver que evitasse meu confronto cara a cara com o homem de verde. Com alguns tiros bem encaixados poderia liquidá-lo de longe.
Mas não tendo o revólver, a máquina fotográfica haverá de atender ao que dela eu espero e desejo, com um mínimo de razoável eficácia.
Por via das dúvidas, acabo de avaliar-lhe o peso e a massa, sopesando-a na mão. E concluí que ela me basta para o meu desígnio assassino, desde que me faça um exímio e sorrateiro matador, atingindo a cabeça do homem vestido de verde com as premeditadas pancadas que minha acalentada violência está programando.
Considerados os prós e os contras, preparo-me para colocar em execução o que será o ato maior da minha vida.
*
Mal me dispus à ação, vi que o homem de verde parou, pela primeira vez, de varrer o asfalto e passou a me observar com o queixo apoiado no cabo da sua grande vassoura. Era como se me descobrisse a olhá-lo e me rebatesse o olhar numa visada invertida, dele para mim.
Diante da situação imprevista a cautela me aconselhou que aguardasse o desenrolar dos acontecimentos. Não seria de boa estratégia que eu fosse atacá-lo no lado oposto da estrada, estando ele agora atento aos meus movimentos.
Sua reação poderia superar a minha capacidade de agir e, num desforço físico de vida ou de morte, o morto ser eu.
No cálculo das probabilidades, tinha que reconhecer que num embate corporal entre o simples fotógrafo que eu sou, e o resistente varredor de estrada de sol a sol que ele é, a balança da vida penderia a seu favor. Detive-me então à espera de uma melhor oportunidade para atacá-lo, valendo-me do elemento surpresa.
Foi ele, porém, quem rompeu o equilíbrio de expectativa que se estabelecera entre nós.
Trazendo sobre o ombro a vassoura com sua larga base de piaçava voltada para cima, veio na minha direção como um cruzado. Atravessou sem pressa a pista de asfalto com um leve gingado do corpo, permanentemente oculto no seu estapafúrdio uniforme.
À medida que se aproximava acentuava-se em meu espírito a impressão de que eu não tinha sob os olhos uma criatura humana, mas um ser assustador e sobrenatural, para o qual deveria me manter alerta.
Quando a estranha figura estacou à minha frente, na distância de uma vassourada, instintivamente crispei os dedos sobre a máquina fotográfica, pronto para transformá-la em arma de defesa, caso necessário. Ali parado, sua estatura média se mostrou um pouco menor do que a minha, sem que isso significasse um trunfo a meu favor, pelo menos naquele enfrentamento momentâneo.
Por alguns demorados instantes, encaramo-nos num impasse de avaliação mútua, confundidos no mesmo silêncio de pedra. Não medíamos forças, mas nos cercávamos de cuidados, no antagonismo das miras.
Foi ele quem afinal falou.
Afastando da boca as pontas da aba de pano que pendiam lateralmente do boné que usava, perguntou, com uma voz indefinida:
- Que horas são?
- Duas e quinze – respondi rapidamente depois de consultar o relógio, na esperança de me ver logo livre de sua proximidade sinistra.
Mas ele continuou imóvel, me olhando por trás dos óculos terríficos. Não deu sinal de ter escutado o que eu disse, nem de que iria voltar ao trabalho.
Comecei a sentir o peso do sol premindo-me a fronte, o suor escorrendo em rolo dentro da roupa, um tremor indomável nas pernas. Tentei quebrar a imobilidade do encontro com uma indagação trivial:
- Falta muito para você largar o serviço?
Ele levou algum tempo antes de me dar a resposta surpreendente, vinda de quem veio:
- Falta toda a minha vida.
Só então me deu as costas e sempre com a grande vassoura apoiada ao ombro verdejou pela pista de volta ao seu local de trabalho, onde retomou a inabalável varrição de condenado, na estrada a perder de vista.
Para mim, porém, fora uma revelação: ele sabe, pensei espantado. Sim, ele sabe que o trabalho que faz é absurdo, uma condenação que durará por toda a sua miserável existência de varredor de estrada. E mesmo conhecendo a extensão da sua sina imutável não tem como escapar dela. Desgraçado destino, o desta infeliz criatura! Mais do que nunca devo pôr fim ao seu desumano infortúnio!
Assim decidido, segurei com força a máquina fotográfica e caminhei com o falso ar de amigo recente, que dissimulava a minha determinação de verdugo justiceiro, ao encontro do homem vestido de verde, no lado oposto do asfalto negro e escaldante.